
10 ANOS - Dom Bosco
EOS ISSN 1980 - 7430 REVISTA JURÍDICA DA FACULDADE DE DIREITO - v. 1, n. 12, Ano 7 (jan./jul. 2015) EDIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO CURSO DE DIREITO EOS EOS — Revista Jurídica da Faculdade de Direito / Faculdade Dom Bosco. Núcleo de Pesquisa do Curso de Direito. — v. 1, n. 12, Ano 7 (jan./jul. 2015) — Curitiba: Dom Bosco, 2015. Semestral. ISSN 1980 - 7430 1. Direito — Periódicos. I. Faculdade Dom Bosco. Núcleo de Pesquisa do Curso de Direito. CDD 3 EOS - REVISTA JURÍDICA DA FACULDADE DE DIREITO ISSN 1980—7430 PRESIDENTE DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO — SEB Chaim Zaher VICE - PRESIDENTE DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO — SEB Adriana Baptiston Cefali Zaher DIRETOR GERAL DA FACULDADE DOM BOSCO Ary de Oliveira Filho COORDENADORA ACADÊMICA DA FACULDADE DOM BOSCO Sueli Zimermann COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO Prof. Me. Robson Luiz Santiago Prof. Dr. Jeferson Teodorovicz Prof. Me. José Maurino Profª. Me. Juliana Montenegro Profª. Me. Juliana Leite Ferreira Cabral Profª. Me. Karime Smaka Barbosa Rodrigues Profª. Esp. Kelly Pauline Baran Profª. Me. Lediane Ramo Fernandes Silva Profª. Me. Lijeane Cristina Pereira Santos Prof. Me. Luis Alberto Coelho Prof. Me. Luiz Gustavo Braga Profª. Me. Mara Angelita Nestor Ferreira Prof. Me. Marco Aurélio Schilichta Profª. Esp. Margareth Macedo Prof. Dr. Maurilucio Souza Prof. Me. Michel Knolseinsen Profª. Me. Paola Nery Ferrari Prof. Me. Rafael dos Santos Pinto Profª. Me. Rebeca Fernandes Dias Prof. Me. Robson Luiz Santiago Prof. Me. Rogério Born Prof. Me. Rodney Caetano COMISSÃO EDITORIAL Prof. Dr. Marcelo Miguel Conrado (Fac. Dom Bosco / UFPR Profª. Me. Maria Cristina Leite Gomes (Fac. Dom Bosco) Profª. Me. Michelle Chalbaud Biscaia Hartmann (Fac. Dom Bosco) COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA Profª. Dra. Sarah Linhares (Fac. Dom Bosco) Prof. Dr. Adriano Correia da Silva (UFG) Prof. Me. Adriano Barbosa Prof. Dr. Aloísio Surgik (UNICURITIBA) Profa. Dra. Ana Paula Myszczuk (UTFPR) COORDENADORA DO NÚCLEO DE MONOGRAFIA Prof. Dr. Bortolo Valle (PUC-PR) DO CURSO DE DIREITO Profa. Dra. Clarissa Bueno Wandscheer (UP/FAMEC) Profª. Me. Michelle Chalbaud Biscaia Hartmann Profa. Dra. Gisela Maria Bester (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) COORDENADORA DO NÚCLEO DE PESQUISA DA Prof. Dr. Ignacio Ara Pinilla (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) FACULDADE DOM BOSCO Profa. Dra. Katya Isaguirre Torres (UFPR) Profª. Drª Marcela Lima Cardoso Selow Prof. Dr. Marcus Paulo Rycembel Boeira (UFRGS) Profa. Dra. Maria Berenice Dias (IBDFAM) COORDENADORA DA REVISTA CIENTÍFICA DO Profa. Dra. Regina Nery CURSO DE DIREITO — EOS Prof. Dr. Ricardo Franco Pinto (UNIVERSIDAD DE LEON / Profª. Me. Maria Cristina Leite Gomes Tribunal Penal Internacional) Profa. Dra. Rosalice Fidalgo Pinheiro (UNIBRASIL) COMISSÃO CIENTÍFICA Prof. Dr. Walter Guandalini Junior (UFPR) PROFESSORES DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE Prof. Dr. Zulmar Antonio Fachin (PUC-PR) DOM BOSCO Prof. Me. Adriano Barbosa REVISÃO Profª. Me. Ana Beatriz Ribeiro Noemia Panke Profª. Dra. Ana Cristina Zadra Valadares Profª. Me. Breezy Miyazaki Vizen Ferreira DIAGRAMAÇÃO Profª. Dra. Carolina dos Anjos Borba Priscila Zimermann Profª. Me. Carolina Fátima Alves Prof. Me. Cassiano Luiz Iurk EDITORA DA REVISTA - CORRESPONDÊNCIA Prof. Me. Cristiano Dionísio Faculdade Dom Bosco Profª. Me. Denise Cristina Brezezinski Coordenação do Núcleo de Pesquisa Prof. Me. Elton Baiocco Campus Marumby Prof. Me. Evandro Limongi Marques de Abreu Av. Wenceslau Braz, 1172 – Guaíra 81010-000 Prof. Me. Guilherme Helfenberger Galino Cassi Telefone: 41 3213-5200 Prof. Me. Guilherme Rittel E-mail: [email protected] Prof. Me. Henrique Brunini COORDENADORAS ADJUNTAS DO CURSO DE DIREITO Profª. Me. Michelle Chalbaud Biscaia Hartmann Profª. Me. Mara Angelita Nestor Ferreira EOS APRESENTAÇÃO É com muita satisfação que apresentamos esta edição comemorativa dos dez anos do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco – Curitiba. Durante o transcurso destes dez anos, o curso sempre esteve preocupado com a formação crítica de seus acadêmicos e buscou impregnar na cultura acadêmica a autogestão do processo de conhecimento. Nos últimos anos, vocacionou-se ao incentivo à pesquisa com a implementação de iniciação científica curricular, grupos de pesquisa alinhados com as áreas de pesquisa institucionais (direitos humanos e cidadania, vida urbana), bem como pela constante aproximação dos conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, com as práticas jurídicas. Desta forma, o curso procura desenvolver no acadêmico a habilidade de aproximação constante da teoria (o antes) e da prática (o depois), bem como a investigação científica dos problemas jurídicos e suas possíveis soluções para a vida contemporânea. Esta é uma das habilidades que entendemos como primordiais para aproximar o nosso acadêmico do mercado de trabalho. Pois, tal como afirma Tolstói, a sabedoria com as coisas da vida não consiste em saber o que é preciso, mas em saber o que é preciso fazer antes e o que fazer depois. Com o compromisso de solidificar a produção jurídica dos últimos anos é que se lança, excepcionalmente, a título comemorativo, este edição impressa da Revista EOS. A revista é fruto da dedicação, esforço, profissionalismo e competência de todo o corpo editorial que com toda a qualidade e rigor científico, semestralmente, concretizam a sua edição online. Robson Luiz Santiago Mara Angelita Nestor Ferreira Michelle Chalbaud Biscaia Hartmann EOS SUMÁRIO MEMBROS EXTERNOS Artigo 1 1 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO 08 Gutenberg Alves Fortaleza Teixeira 23 Artigo 2 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL Marcus Paulo Rycembel Boeira MEMBROS INTERNOS Artigo 3 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. 52 Carolina dos Anjos de Borba Artigo 4 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADEDE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃOSOCIAL DO CONTRATO EBOAFÉ OBJETIVA Carolina Fátima de Souza Alves Antonio Carlos Efing Artigo 5 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE Cristiano Dionísio 6 39 68 82 Artigo 6 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO Elton Baiocco Artigo 7 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR 108 96 Kelly Pauline Baran Artigo 8 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. Luiz Gustavo Thadeo Braga Artigo 9 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” Mara Angelita Nestor Ferreira 140 126 RESENHAS Resenha DIREITO E PSICANÁLISE: DIÁLOGO NECESSÁRIO Lijeane Cristina Pereira Santos 7 Artigo 1 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO11 Gutenberg Alves Fortaleza Teixeira2 Resumo: Este artigo busca analisar como foi tratado o crime de guerra de agressão, também conhecido como crime contra a paz, no Tribunal para o Extremo Oriente em Tóquio. Partindo dos primeiros passos para para estreitar o entendimento de julgar indivíduos para iniciar uma guerra agressiva até o entendimento atual do que se tem hoje para o significado desde julgamento na sociedade japonesa. Palavras-Chave: Crime; guerra; agressão; julgamento. Abstract: This paper analyzes was treated as the war crime of aggression, also known as a crime against peace, in the Tribunal for the Far East in Tokyo. Taking the first steps to realize the understanding to judge individuals to begin an aggressive war up to the current understanding we have today which meant that judgment in Japanese society. Keywords: Crime; war; aggression; trial. 1 Como la idea de juzgar individuos por el crimen de guerra de agresión llega a Nuremberg Después de la consolidación de las potencias que iban a salir victoriosas de la II Grande Guerra Mundial, se tuvo el entendimiento de que sus sistemas penales podrían resultar también útiles a sus políticas exteriores y de guerra. Si ante la agresión podían hacer la guerra a otro país y reducirlo a cenizas, parecía posible también aplicar a las autoridades del país enemigo los efectos del poder punitivo para reprimir y prevenir agresiones futuras. Esta idea se hizo realidad en Nuremberg y Tokio (Pastor, 2006: 25). Estos dos Tribunales Militares Internacionales funcionaron con éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que fueron establecidos por los vencedores de la guerra pero la experiencia nos enseñó la viabilidad de la creación de tribunales internacionales (Dinstein y Tambory, 1996:15). Este trabajo fue realizado en el periodo de vigencia de la tutela académica de tesis doctoral, en el Programa de Responsabilidad Jurídica: perspectiva multidisciplinar, Universidad de León, España. 2 Doctorando en el Programa de Responsabilidad Jurídica: perspectiva multidisciplinar, Universidad de León, España. Email: [email protected] 1 8 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO Históricamente, la cuestión de la responsabilidad individual por el crimen de agresión empezó a concretarse al 30 de octubre de 1943, en la Conferencia Tripartita de Moscú, donde EEUU, Gran Bretaña y la URSS, dictaron una declaración para la punición de los criminales de guerra que al final del conflicto iban a ser conducidos a un sitio apropiado para su castigo de acuerdo con la voluntad conjunta de los países aliados (Andrés Domínguez, 2006:58). Así que el proceso para juzgar a los autores de la Segunda Guerra Mundial ya había empezado cuando la misma estaba todavía en curso y durante 1943 y 1944, los escritores académicos y gobiernos aliados examinaron la cuestión de la posible responsabilidad penal individual por el crimen de agresión (Kemp, 2010:82). En la Conferencia de Londres de 1945, Francia, la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido acordaron crear un Tribunal Militar Internacional para juzgar personas por el crimen de emprender una guerra agresiva (Wynen Thomas y Thomas, 1972:20). A pesar de que las cuatro partes estaban de acuerdo que debería haber responsabilidad penal y sanción a los responsables de esa guerra, ellos diferían en su respuesta a la cuestión de la criminalidad de la guerra agresiva y la base legal de la pena de sus autores (Rifaat, 1979:144). La URSS por ejemplo, creía que el propósito se limitaba a determinar el castigo que había de imponerse a los acusados lo que era inaceptable para los Estados Unidos. Además las diferencias entre la ley civil de Francia y URSS y las contrapartes de common-law (Reino Unido y Estados Unidos) sobre los procedimientos adecuados para juicio también causaron dificultades (Cryer at al, 2010:111). Los EE.UU. entendían que la guerra de agresión era un crimen internacional que implicaba la responsabilidad penal de sus autores e insistieron en que el Estatuto del Tribunal debería incluirse una declaración universal sobre los crímenes específicos de la guerra, sus perpetradores e instigadores los cuales tenían responsabilidad penal (Rifaat, 1979:144) en cuanto que Francia quería que la disposiciones sobre la agresión estuviesen vinculadas a las violaciones de los tratados y otros instrumentos internacionales para evitar problemas de aplicación retroactiva del derecho penal. Además las referencias a violaciones de los tratados también aliviaban a los redactores de tener que definir la agresión (Kemp, 2010:83). Francia sugirió que el castigo de los líderes podía justificarse legalmente en el Derecho internacional si se basan en la conducta criminal de la guerra, pero no en la criminalidad de la guerra en sí misma. Su argumento era que a pesar de la guerra de agresión ser ilegal porque se trata de una guerra en violación de las leyes y tratados internacionales, no es un crimen bajo el Derecho Internacional vigente. Por lo tanto, no había sanciones penales que podrían ser atribuidas a los Estados por hacerlo y tampoco a las personas (Rifaat, 1979:145). Sin embargo, los E.E.U.U. insistieron que el lanzamiento de una guerra de agresión se debería cargar como un acto criminal y el crimen de agresión debería ser específicamente definido3. Sostener que se debería definir claramente qué se entiende por agresión tenía en parte el Ferencz, Benjamin B.: Defining Aggression: Where it Stands and Where it’s Going, The American Journal of International Law, Vol. 66, No. 3, 1972, p. 492. 3 9 Artigo 1 propósito de descartar que la defensa recurriera a pretextos, evasivas y probabilidades y también para evitar argumentos de distracción. El objetivo era concentrarse en la cuestión material que fue responsable de iniciar la guerra4. Los EE.UU. entendían como necesario para completar la definición de la agresión en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional utilizar como base las definiciones de agresión contenidas en las Convenciones de Londres5 (Komarnicki, 1949:65). Estas definiciones se centraban en el Estado como el agresor (Bartman, 2010:14). Cuando llegó el momento de firmar el Estatuto de Tribunal Militar Internacional, el problema de la definición de la agresión estaba en absoluto punto muerto. En vano los Estados Unidos insistieron en incluir una definición (Aroneanu, 1958:29). Los representantes británicos, franceses y soviéticos se negaron a aceptar cualquier definición de la agresión. En consecuencia eso fue resuelto sin que una definición de agresión fuera inserida en el Estatuto. La formula final adoptada fue el compromiso entre los diferentes puntos de vista de las cuatro potencias. Enumeración de los crímenes fueron incluidos en el capítulo por el cual se consideró una guerra de agresión un crimen en sí mismo (Rifaat, 1979:148-149). En el caso de la agresión, se entendió más importante condenar y castigar esa conducta que seguir literalmente el principio de la retroactividad, o sea, se consideró más importante reivindicar y cristalizar repugnancia para la guerra agresiva que la mecánica para aplicar nulla poena sine lege. Fue la reflexión sobre estas consideraciones que impulsaron el juez Wyzanski a retirar sus críticas anteriores y aprobar la condena de la guerra de agresión como un crimen6. Hubo el compromiso que el jefe de los fiscales de cada país preparara la acusación y presentara la evidencia sobre la base de la ley consagrada en el Estatuto7. En el caso de su artículo 6(a), trataba de la planificación, preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión o una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos o garantías internacionales, o la participación en un Plan Común o Conspiración para la realización de cualquiera de los anteriores8. Las conductas de planificación, preparación y orden de llevar adelante la conducta agresiva constituían el núcleo de la conducta del crimen de agresión y se entendió que no hacía falta que los propios dirigentes y organizaciones hubieran ejecutado el crimen de agresión puesto que ya serían responsables por el hecho de haber ordenado su ejecución (Zapico Barbeito, 2009:634). Es significativo que el Acuerdo de Londres ha dado lugar de destaque al crimen contra la paz que está delante de todos los demás. Además algunas de las categorías siguientes hacen mención al crimen contra la paz enumerado inicialmente9. Jackson, William Eldred: Putting the Nuremberg Law to Work, Foreign Affairs, Vol. 25, No. 4, Council on Foreign Relations, 1947, p. 555. 5 Fueron firmadas en 1933 entre la URSS y Afganistán, Estonia, Letonia, Persia, Polonia, Romania y Turquía, entre la URSS y Checoeslovaquia, Romania, Turquía y Yugoslavia y entre la URSS y Letonia. Las partes consideraban agresor aquel Estado que fuera el primero a declarar la guerra; invadir el territorio de otro; atacar el territorio, las naves o aeronaves de otro; hacer un bloqueo naval de las costas o de los puertos de otro; Proporcionar apoyo a bandas armadas en su territorio que hayan invadido el territorio de otro, o negativa de tomar, todas las medidas que estuvieren a su alcance para privar a tales bandas de toda ayuda o protección. 6 Meltzer, Bernard D.: A Note on Some Aspects of the Nuremberg Debate, The University of Chicago Law Review, Vol. 14, No. 3, 1947, p. 458. 7 Wright, Quincy: The Law of the Nuremberg Trial, The American Journal of International Law, Vol. 41, No. 1, 1947, p. 40. 8 Paulson, Stanley L.: Classical Legal Positivism at Nuremberg, Philosophy and Public Affairs, Vol. 4, No. 2, Blackwell Publishing, Princeton University Press, 1975, p. 138. 9 Leonhardt, Hans: The Nuremberg Trial: A Legal Analysis, The Review of Politics, Vol. 11, No. 4, Cambridge University Press, 4 10 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO Esta fue la primera vez que un tratado internacional estableció la responsabilidad individual en virtud del derecho penal internacional para librar una guerra de agresión (Werle et al, 2005:391). El juicio de individuos por el crimen de guerra de agresión en el Tribunal de Nuremberg abrió las puertas para que lo mismo ocurriera en Tokio. 2 El Tribunal de Tokio Las bases de creación de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fueron lanzadas el 1 de diciembre de 1943 en la Conferencia del Cairo donde chinos, británicos y estadunidenses firmaron una declaración exponiendo el objetivo de terminar con la agresión de Japón y llevar a juicio a los criminales japoneses. Estos objetivos fueron reafirmados en julio de 1945 en la Conferencia de Potsdam (Japiassú, 2009:76-77). El 18 de febrero de 1946, Douglas MacArthur, Comandante Supremo de las Potencias Aliadas anunció el nombramiento de John P. Higgins, el juez presidente del Tribunal Superior de Massachusetts, como el juez de Estados Unidos en los crímenes de guerra de Tokio10. Tanto en Nuremberg como en Tokio había quedado claro que los aliados tenían interés en enseñar al mundo la naturaleza de la conspiración criminal internacional que había sido fundamental en deflagrar una guerra mundial agresiva11. Esperaban que juzgar y sancionar a los ex gobernantes del Eje dejaría una huella en la conciencia de las naciones derrotadas haciendo que rechazaran todo lo que sus antiguos líderes representaron12. MacArthur estaba autorizado a aplicar la Declaración de Potsdam que prometía una justicia severa por crímenes de guerra. La declaración había sido acepta por Japón en su instrumento de rendición y la creación del Tribunal de Tokio sobre esta base dio lugar a la competencia de este con los crímenes contra la paz (Cryer et al, 2010:115). El juicio de Tokio sufrió influencia en el tema de conspiración de las recomendaciones hechas por el Departamento de Guerra de los EE.UU., donde todo lo hecho en cumplimiento de la conspiración desde su inicio sería admisible. Estas ideas formaron el núcleo central de la política de crímenes de guerra de los EE.UU., una política internacionalizada por medio de la incorporación de los crímenes contra la paz en el Estatuto de Nuremberg13. En Tokio, los acusados iban a recibir los cargos de conspirar como líderes, organizadores, instigadores o cómplices de guerras de agresión contra cualquier país o grupo de países que podrían oponerse a que Japón asegurase el dominio militar, naval, político y económico de Asia Oriental, del Pacífico, del Índico y de los territorios adyacentes. La conspiración fue también cargada en relación con violaciones de la ley y las costumbres de la guerra (Darcy, 2007:219). 1949, p. 454. 10 Takatori, Yuki: The Forgotten Judge at the Tokyo War Crimes Trial, Massachusetts Historical Review, Vol. 10, 2008, p. 115. 11 Thornberry, Cedric: Saving the War Crimes Tribunal, Foreign Policy, No. 104, Washington post. Newsweek Interactive, LLC, 1996, p. 73. 12 Takatori, Yuki: The Forgotten Judge..., op. cit., p. 116. 13 Boister, Neil: The Application of Collective and Comprehensive Criminal Responsibility for Aggression at the Tokyo International Military Tribunal. The Measure of Crime of Aggression? Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010, pp. 427-428. 11 Artigo 1 En la preparación del Estatuto del Tribunal de Tokio los Estados Unidos actuaron solos. El elaborador principal fue el Fiscal Jefe de Estados Unidos, el Sr. J.B. Keenan. Los aliados fueron consultados sólo después de que el Estatuto del Tribunal había sido emitido (Nyri, 1989:76) y la versión sin restricciones de la política de EE.UU. sobre la conspiración tuvo su momento cuando introducida en Tokio por medio del artículo 5 (a) del Estatuto del Tribunal14. La redacción del artículo 6 (a) de la Carta de Nuremberg fue copiada en el artículo 5(a) de la Carta de Tokio (Werle et al, 2005:391). Bajo el título de Crímenes contra la Paz el Estatuto cita cinco crímenes separados (Boister, 2008:84) que son: la planificación, preparación, iniciación o ejecución de una guerra declarada o no declarada de agresión o una guerra en violación del derecho internacional, los tratados, acuerdos o garantías internacionales, o la participación en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los anteriores (Rifaat, 1979:158). Parece que especial atención fue dada al concepto de agresión, aparte de que la guerra agresiva. La planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión, independientemente de una declaración de guerra, es un crimen según el artículo 5 (a). De la misma manera, la existencia de un estado de guerra en el sentido formal no era una condición de ese crimen. El Estatuto además, no trataba de la legítima defensa y no hizo distinción entre esta y la agresión (Rifaat, 1979:158). Curiosamente, Tokio iba heredar una característica del Tribunal de Nuremberg, o sea, una limitación que conllevan todos los estatutos de tribunales ad hoc (Nuremberg, Tokio, Yugoslavia o Ruanda) que es que tipificar conductas que se han realizado en un determinado contexto conocido cuando son redactados (Cuerda Riezu y Jiménez García, 2009:198). a. Juzgando a los acusados por la guerra de agresión en el extremo oriente El Tribunal estaba compuesto, por once jueces, todos designados por el General MacArthur, de una lista de nombres propuesta por los firmantes de la rendición de Japón, Filipinas y por India (Castillo Daudí y Salinas Alcega, 2007:30). Este grupo difícil de manejar fue supervisado por el juez de Australia, Sir William Webb (Cryer et al, 2010:115). En 1 de marzo de 1946 cuando llegaron a Tokio los jueces B.V.A. Roling de Holanda y E. Stuart McDougall, de Canadá, los preparativos para el juicio estaban lejos de finalización. El juez soviético I.M. Zaryanov y toda su delegación pasaron más tiempo de lo previsto en Vladivostok y Francia aún no había anunciado su representante15. Los EE.UU tuvieron derecho a designar al fiscal principal, mientras sólo se permitió que a los otros países designaran a fiscales asociados. La opción estadounidense fue Joseph Keenan. La defensa fue emprendida por varios abogados japoneses y americanos, los más conocidos de ellos eran Kenzo Takayanagi, un profesor de derecho anglo americano de Tokio e Ichiro Kiyose, un político y abogado (Cryer et al, 2010:115-116). 14 15 Boister, Neil: The Application of..., op. cit, p. 428. Takatori, Yuki: The Forgotten Judge..., op. cit., p. 122. 12 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO A esta altura ya estaba claro para todos que el castigo de los criminales de guerra no era suficiente; su culpa tenía que ser acepta por el pueblo japonés. Se esperaba que el Tribunal contribuyera a este fin. Procesando y castigando a individuos y separándolos de la mayoría de la nación16. El tema central del Tribunal de Tokio, como el de Nuremberg, era la criminalidad de la guerra de agresión y de la responsabilidad penal de sus autores. En lo que respecta a estas preguntas, la acusación y la defensa actuaron, cada uno en su parte, como se ha ocurrido en el juicio de Nuremberg (Rifaat, 1979:160). El juicio empezó con la presentación de la acusación ante el Tribunal el 29 de abril de 1946. La acusación, en cincuenta y cinco cargos, acusó a los veintiocho acusados de crímenes contra la paz y conspiración, crímenes de guerra y los asesinatos, el último en la base de una teoría de la fiscalía de que todos los asesinatos (incluidos combatientes) fueron en una guerra ilegal (Cryer et al, 2010:116). Es importante destacar que entre los imputados de los crímenes de iniciar y emprender una guerra de agresión contra las posesiones de las naciones acusadoras, ninguno de ellos atacó directamente los Estados occidentales. Japón atacó sólo a sus colonias a pesar de eso el odio a los japoneses jugó un papel preponderante en los juicios (Nyiri, 1989:77). Los primeros treinta y seis cargos fueron etiquetados como crímenes contra la paz, los siguientes dieciséis asesinato, y los tres últimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La fiscalía describió el ataque japonés a Nanking en la acusación como el cargo 45. De acuerdo a las categorías en la acusación, se trataba de una acusación de asesinato y no un crimen contra la humanidad17. La fiscalía alegó varias conspiraciones para cometer crímenes contra la paz en la Acusación. En el cargo 1, alega que los acusados habían conspirado con otras personas no identificadas, entre el 1 de enero de 1928 y 02 de septiembre 1945, para emprender guerras de agresión a fin de dominar Asia Oriental y el Pacífico y eran responsables de todos los actos realizados por ellos mismos o por cualquier otra persona en ejecución de dicho plan. En el argumento, la fiscalía sostuvo que esta gran conspiración se encuentra en el marco del gobierno de Japón, con lo que establece la responsabilidad de los titulares de los cargos, cuando los hechos se cometieron18. Se afirmó además, que había un plan y una conspiración entre Alemania, Italia y Japón para asegurar la dominación naval, política y económica de todo el mundo. La agresión, sin embargo, no se puso claramente de relieve en el sentido de la dominación, a pesar de que estaba implícita en el principio de la planificación y preparación. No se hacía referencia a un tratado específico cuya violación conlleva un acto de agresión, como fue en Nuremberg. Esta omisión facilitó los objetivos políticos y los propósitos del Juicio de Tokio y se aceleró el proceso en sí Futamura, Madoka: Individual and Collective Guilt: Post-War Japan and the Tokyo War Crimes Tribunal, European Review, Vol. 14, No. 4, 2006, p. 473. 17 Brook, Timothy: The Tokyo Judgment and Rape of Nanking, The Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 3, Association for Asian Studies, 2001, p. 678. 18 Boister, Neil: The Application of..., op. cit, p. 429. 16 13 Artigo 1 (Nyiri, 1989:78-79). Pero el juicio en Tokio parecía paralizado por la invocación de la acusación del término conspiración. Cuando el abogado defensor Ben Blakeney se quejó de la incertidumbre que se produciría, el Presidente del Tribunal respondió que ni al abogado defensor ni el eran responsables por la definición de conspiración y su alcance19. La respuesta legal del Tribunal fue direccionada por el juez escoses Lord Patrick que en su borrador identificó dos tipos de conspiración: conspiración ejecutada, una doctrina de complicidad y la conspiración desnuda, o crimen rudimentario, el cual fue considerado valido porque estaba previsto en el articulo 5(a). La mayoría en el Tribunal adoptaron la analice de él en los juicios y utilizaron un acuerdo como la única condición para el establecimiento de la conspiración. Una vez que el acuerdo estuviera en efecto todo lo rudimentario involucrado para ese objetivo, como el planeamiento o preparación en ello se encajó18. La acusación, mientras ponía la proposición de que el Tribunal aceptara el Estatuto como cumplimento obligatorio en la vanguardia, también puso los mismos hechos en los cargos de asesinato, un método no adoptado en Nuremberg. La fiscalía consideró que aquellos que inician las guerras de agresión deberían ser reconocidos como asesinos comunes y si este punto de vista de su conducta fuera acepta por el Tribunal estaría eliminada cualquier posible duda en cuanto al cargo ser ex post facto o con base en un acto legislativo de las potencias vencedoras20. Es indudable que la política entró en el proceso de acusación y gracias a eso el Emperador no fue acusado en razón de que su inmunidad era necesaria para la estabilidad del Japón de la posguerra, y fue deliberadamente no mencionado por la fiscalía (Cryer et al, 2010:119). Si Hirohito tuvo un papel importante en la planificación y en librar las guerras de agresión ha sido objeto de debate. Sin embargo, es innegable que el pueblo cree que luchó en la guerra en su nombre y que todos los pedidos seguidos por los soldados durante la guerra se hicieron bajo su nombre y autoridad. Con la concesión de la inmunidad al Emperador, el Tribunal de Tokio ocultó la responsabilidad de la guerra japonesa de una manera bien distorsionada21. La decisión de mantener Hirohito fuera del juicio de Tokio cerró la posibilidad de que los japoneses rechazaran lo que el gobierno imperial había hecho. Las consecuencias han sido dos: la sentencia de Tokio ha unido a algunos japoneses en el rechazo de la sentencia del Tribunal y China tuvo la convicción de que Japón todavía tenía que soportar toda su “carga legal” por lo que hizo22. Ninguno de los acusados alegaron que estaban engañados, coaccionados o inducidos por el Emperador para hacer lo que hicieron. Si el Emperador hubiera sido llevado a juicio se podría haber alegado en su nombre que él fue engañado, inducido, o incluso forzado a jugar su parte en el asunto por algunos de los acusados y otros que murieron antes o durante el juicio23. Ibídem, pp. 429-430. Comyns-Carr, A. S.: The Tokyo War Crimes Trial, Far Eastern Survey, Vol. 18, No.10, Institute of Pacific Relations, 1949, pp.109110. 21 Futamura, Madoka: Individual and Collective..., op. cit., p. 474. 22 Brook, Timothy: The Tokyo Judgment..., op. cit., p. 676. 23 Comyns-Carr, A. S.: The Tokyo War..., op. cit., p. 111. 19 20 14 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO b. La sentencia de Tokio en relación al crimen de agresión y sus controversias El Tribunal concluyó que había, en la política japonesa, una conspiración criminal para librar guerras de agresión y que los militares japoneses habían cometido graves crímenes de guerra contra prisioneros de guerra aliados y civiles24. En la sentencia de la mayoría se determinó que, en el momento de la firma de su rendición el gobierno japonés había entendido que el término criminales de guerra incluyera a los responsables de iniciar la guerra (Cryer et al, 2010:115). En lo que respecta a la criminalidad de la guerra de agresión y de la responsabilidad penal de sus autores, la sentencia de la mayoría de Tokio siguió el juicio de Nuremberg y sus conclusiones en esta materia e incluso el lenguaje de la sentencia de Nuremberg fue adoptado por el Tribunal de Tokio (Rifaat, 1979:161). El Tribunal no pudo definir la agresión, pero, no obstante, respaldó la definición seleccionada por el Fiscal General estadounidense Mr. Joseph B. Keenan, tomada emprestada del Nuevo Diccionario Webster. La fuente más improbable para una definición política y legalmente vinculante (Nyiri, 1989:79). La sentencia de la mayoría siguió la opinión del juicio de Nuremberg en prácticamente todos los aspectos de la ley que adopten expresamente su razonamiento en relación con el carácter vinculante del Estatuto del Tribunal, la criminalidad de la guerra de agresión y la abolición de la defensa absoluta del orden de un superior (Cryer et al, 2010:116). El Tribunal en su sentencia de mayoría no encontró ninguna dificultad en afirmar que los ataques que Japón inició contra Gran Bretaña, Estados Unidos y los Países Bajos fueron guerras de agresión. Fueron ataques no provocados, impulsados por el deseo de apoderarse de las posesiones de estas naciones (Rifaat, 1979:163). A diferencia de Nuremberg, el juicio de Tokio, fue incapaz de limitar la gran conspiración a una serie de pequeñas conspiraciones, porque eso habría significado la absolución de muchos de los acusados, ya que no eran parte en cualquiera de las conspiraciones más pequeñas o para los más importantes crímenes de hacer la guerra25. El más llamativo del juicio fueron las distintas actitudes de los miembros del Tribunal en su juicio final. Los once jueces, cada uno representando una de las naciones victoriosas contra Japón, se dividieron. La sentencia de la mayoría, que se llevó a cabo por ocho jueces y leída en sesión pública, estaba en pleno acuerdo con la sentencia del Tribunal de Nuremberg. Los otros tres no estuvieron de acuerdo con la sentencia de la mayoría en diferentes grados (Rifaat, 1979:160). Las críticas internas al juicio provinieron de estos tres jueces disidentes (Nyiri, 1989:80). Las más importantes sentencias disidentes fueron dadas por los jueces de Holanda y de India, Röling y Pal. 24 25 Futamura, Madoka: Individual and Collective..., op. cit., p. 473. Boister, Neil: The Application of..., op. cit, p. 431. 15 Artigo 1 Röling estaba en desacuerdo con la mayoría y con el Tribunal de Nuremberg sobre la cuestión de los crímenes contra la paz, al considerar que no había responsabilidad penal individual por agresión en el derecho internacional (Cryer et al, 2010:117). Inicialmente había estado a favor de dictar una sola sentencia. Sin embargo, cuando el juez Pal expresó su intención de disidencia, los que habían sido inicialmente reacios a expresar su desacuerdo decidieron que lo harían26. Roling, en su opinión disidente consideró que el objetivo de la política exterior japonesa para ganar una posición dominante en Asia era reducir o incluso eliminar la dominación europea y eso no era ilegal en sí mismo. También puso en duda las sentencias basadas en crímenes contra la paz, un crimen hasta aquel momento no definido e insertado en los estatutos de los tribunales de Nuremberg y Tokio después de la guerra27. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que la agresión era el más grave y supremo crimen internacional, aunque observó que la Comunidad Internacional no solía actuar sobre esta premisa28. Negaba la existencia de una guerra de agresión como crimen ya sea bajo el Pacto de París o en el Derecho Internacional en general, pero estaba de acuerdo con la mayoría de que los autores de una guerra de agresión deberían ser condenados y castigados (Rifaat, 1979:162). Además expuso sus diferencias con la mayoría y el juez Pal de una manera equilibrada y erudita. Su opinión y sus comentarios en el juicio de Tokio son la evidencia de un juez que trató de superar la visión provinciana de la fiscalía y de la defensa, tanto en la ley y los hechos29. El juez Bernard de Francia consideró que los crímenes contra la paz podrían basarse en la ley natural. Él fue quien tomó un enfoque más sofisticado de la responsabilidad de mando de la mayoría. No obstante, consideró que el juicio ha avanzado de tal manera que no pudo llegar a un juicio sobre la responsabilidad de los acusados (Cryer et al, 2010:116-117). Bernard entró en una sentencia minoritaria pidiendo la absolución de los acusados y nombró el emperador Hirohito como el autor principal de la declaración de guerra de Japón (_____, 1949:186). Según Bernard, la cuestión de la responsabilidad de este último, constituía el más grave de los actos cometidos contra la paz que siguen sin respuesta. No se podía negar, que los acusados presentes sólo podían ser considerados como cómplices (Bernard, 1948:677). De los votos por separado emitidos junto con la sentencia mayoritaria el Juez Radhabinod Pal de la India fue el más devastador en el rechazo de la acusación central que Japón había librado una guerra de agresión y por lo tanto ilegal30. Pal no aceptó la sentencia del Tribunal de que Japón atacó sin haber sido provocado. Se opuso a la definición concluyente del cargo principal de la fiscalía y no estuvo de acuerdo con todas las propuestas de definición de agresión utilizadas por la acusación en el juicio (Nyiri, 1989:80). Cryer, Robert: Röling in Tokyo, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010.p.1110. Schrijver, Nico: B.V.A. Röling – A Pioneer in the Pursuit of Justice and Peace in an Expanded World, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010, p. 1076. 28 Van Der Wilt, Harmen: A Valiant Champion of Equity and Humaneness. The Legacy of Bert Röling for International Criminal Law, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010, pp. 1129-1130. 29 Cryer, Robert: Röling in Tokyo, op. cit., pp.1110-1111. 30 Brook, Timothy: The Tokyo Judgment... op. cit., p. 677. 26 27 16 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO Argumentó doble nulidad en la legislación y en la sustancia con respecto a la afirmación de la acusación que los líderes japoneses habían participado en una conspiración para llevar a cabo una guerra31. Pal estaba en desacuerdo con la mayoría que vía la guerra de agresión como un crimen desde antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Insistió en que nunca el Pacto de París, así como el derecho consuetudinario internacional, introdujo el elemento de la criminalidad a cualquier guerra en la vida internacional. Fue incluso dudoso para él que el Acuerdo de Londres y el Estatuto lograran esa mutación en el Derecho internacional (Rifaat, 1979:162). El juez indiano se hizo campeón en lo que se llamaría más tarde tercermundismo. Para él, no había evidencia de que los acusados fueron los autores de crímenes contra la paz (Jaudel, 2010:128). Pal señaló que en ausencia de una definición clara el concepto de agresión fue abierto a la interpretación interesada. En gran parte aceptó los argumentos de la defensa que las acciones de Japón fueron sólo reacciones a las provocaciones de las potencias occidentales. El hizo una extensa crítica de la equidad de las actuaciones judiciales y dejó claro que vio la acusación como hipócrita, debido al registro de que muchos de los Estados acusadores eran colonialistas, y del uso de armas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki (Cryer et al, 2010, 117). Como consecuencia de su rechazo total de la idea de la criminalidad de la guerra de agresión, Pal llegó a la conclusión de que el individuo que compone un gobierno y que actúa como agente de este no incurre en responsabilidad penal en el Derecho internacional por los hechos denunciados. Sostuvo además, que todos y cada uno de los acusados deberían ser absueltos de todos y cada uno de los cargos presentados por la acusación (Rifaat, 1979:163). Aunque los argumentos de Pal contra la validez de la sentencia de Tokio han sido evaluados como de sonido, fueron desestimados en la época por motivos políticos y no se han examinado con la atención que se merecían32. El dictamen de Pal fue criticado en la opinión concurrente del juez Jaranilla, el juez de Filipinas, que dijo que Pal debería haber aceptado las disposiciones del Estatuto de Tokio sobre la ley, como había aceptado el nombramiento bajo lo mismo. También afirmó que las actuaciones judiciales fueron justas, y que los bombardeos atómicos estaban justificados, ya que pusieron fin a la guerra (Cryer et al, 2010, 117-118). Según Jaranilla, si cualquier crítica debería ser hecha contra el Tribunal de Tokio era que había actuado con indulgencia en favor de los acusados y les había permitido todas las oportunidades de presentar toda y cualquier defensa que tuviesen prolongando el juicio y que la acusación y la defensa fueron tratados por igual con los mismos derechos y privilegios (Jaranilla, 1948:650-651). 31 32 Ibídem, pp. 687-688. Brook, Timothy: The Tokyo Judgment..., op. cit., p.677. 17 Artigo 1 El nombramiento de Jaranilla fue controvertido, ya que él había sido víctima de la marcha de la Muerte de Bataan33 y por lo tanto no debería haber sido nombrado, sobre la base de que podría haber sido parcial en contra de los acusados. Su opinión de que las penas impuestas fueron demasiado indulgentes hizo poco para disipar esa sospecha (Cryer et al, 2010:118). El Presidente del Tribunal emitió un dictamen por separado, en el que le dio su propia opinión sobre la ley, en particular, que la criminalidad de la guerra de agresión podría basarse en la ley natural. Webb afirmó también que el Emperador fue responsable del inicio de estas guerras y su ausencia se reflejó en las sentencias impuestas a los acusados (Cryer et al, 2010:116). El Presidente del Tribunal negó que el Estatuto de Tokio pudiera proporcionar autoridad sobre el crimen rudimentario porque él no reflectaba la ley internacional, una visión compartida por el juez indiano Pal34. El Tribunal de Tokio podía imponer la pena de muerte u otra pena que creía justa según el artículo 16 de su Estatuto. La ejecución de las sentencias era competencia del Comandante en Jefe de las Fuerzas Aliadas en el Lejano Oriente (Castillo Daudí y Salinas Alcega, 2007:31), o sea, del propio General MacArthur. Con la única excepción de Matsui y Shigemitsu, todos los acusados fueron condenados por el Tribunal de Tokio por conspirar para participar en las guerras de agresión contra las naciones representadas en la corte (Jaudel, 2010:120). El 12 de noviembre, la sentencia se dictó a 25 acusados. Siete, incluso Tojo, fueron condenados a la muerte, 16 a la cadena perpetua, uno a encarcelamiento de veinte años y otro a siete años de encarcelamiento. Las siete ejecuciones ocurrieron el 23 de diciembre de 194835. c. El legado del Tribunal de Tokio Se esperaba que Tokio fuera una mejora sobre el juicio de Nuremberg, en particular con respecto a las opiniones de la jurisprudencia, por ejemplo, si la guerra de agresión es un crimen, y si los líderes individuales de la guerra son punibles según el Derecho internacional36. Donde el Tribunal de Tokio concordó con su homólogo de Nuremberg sobre la ley, las mismas críticas son aplicables a ambos, aunque en relación con la conspiración y la responsabilidad del mando el Tribunal de Tokio fue más allá, y en el juicio de muchos, demasiado lejos (Cryer et al, 2010:118). El juicio presentó tres debilidades inherentes a la aplicación de la doctrina de la conspiración para el crimen de agresión. La conspiración podría ser manipulada para producir la culpa colectiva entre la élite política del estado agresivo, fue utilizada por la fiscalía en Tokio para evitar las dificultades de establecer la responsabilidad individual para la acción en la toma de Ocurrió en Filipinas en 1942. La marcha de alrededor de 100 Km trasladaba de la península de Bataan a 75.000 prisioneros entre ellos soldados estadounidenses, filipinos y civiles capturados. Durante la marcha hubo una amplia gama de abusos físicos y asesinatos infligidos a los prisioneros por las fuerzas armadas de Japón a lo largo del transcurso (decapitaciones, apuñalamientos con bayonetas, violaciones, golpes de culata de rifle, negativa a permitir beber y comer a los prisioneros durante la marcha de casi una semana bajo el calor tropical). 34 Boister, Neil: The Application of..., op. cit, p. 430 35 Futamura, Madoka: Individual and Collective..., op. cit., p. 473. 36 Liu, James T. C.: The Tokyo Trial: Source Materials, Far Eastern Survey, Vol. 17, No. 14, Institute of Pacific Relations, 1948, 168. 33 18 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO decisiones. Haciendo caso omiso de las divisiones entre los acusados se les unió en un solo juicio y supuesto acuerdo amplio que demostraron a través de pruebas circunstanciales37. Mismo que fuera históricamente correcto que Japón buscó su alargamiento territorial por medios de conquista entre 1928 a los años de 1940, no estaba claro de ninguna forma porque razón el uso de la fuerza contra las posesiones coloniales de las potencias occidentales en 1941 fueron considerados actos de agresión. El juicio no trató sobre este importante tema y sacó el significado de la agresión de la acusación de que la búsqueda por el dominio y la redistribución de valores y recursos por el uso de la fuerza describen ampliamente la naturaleza realista de la agresión (Nyiri, 1989:82). Para Jaudel, el juicio de Tokio fue la venganza de los vencedores. Todos los acusados quedarán exentos de responsabilidad penal. Una opinión que alimentan las tesis revisionistas en Japón y se encargarían de la reputación de Pal (Jaudel, 2010:129). Para Röling, Nuremberg y Tokio son los típicos ejemplos de tribunales ad hoc en que los jueces fueron nombrados para la ocasión y en que las reglas de procedimiento fueron establecidas para la ocasión. La crítica en relación con este aspecto ha sido casi universal. Fue un procedimiento primitivo, insatisfactorio para cualquiera acostumbrado a uno procedimiento más imparcial y mejor organizado en su propio país38. El Tribunal de Tokio fue el más largo de los dos tribunales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de sus aportaciones ganó menos reconocimiento, elogios, admiración, y fama como un hito judicial que el proceso de Nuremberg había ganado39. Hoy en día, los Estatutos de Nuremberg y Tokio son los puntos de partida para la establecida opinion juris de la Comunidad internacional de que librar una guerra de agresión es un crimen (Werle et al, 2005:392). En general, Nuremberg y Tokio abrieron un hueco importante entre el cargo y la prueba de agresión. Fue esta brecha de credibilidad, que iba a crear el carácter problemático de la agresión en las Naciones Unidas. Al no poder probar quien de hecho inició la guerra, y mucho menos ser responsable de ella, las Potencias Aliadas introdujeron en la política internacional, la idea de responsabilidad política y legal para demostrar que la agresión se concentraba en romper las obligaciones internacionales y en el primer recurso a la fuerza lo que dominaría los debates futuros en las Naciones Unidas (Rifaat, 1979:82). El castigo penal de individuos en Tokio provocó efectos secundarios, que dejaron un legado ambiguo en la interpretación japonesa de la culpabilidad de la guerra y la responsabilidad a un nivel más colectivo, más social40. A pesar de la aceptación de la sentencia por el gobierno japonés en el artículo 11 del Tratado de Paz de 1952, la discusión se mantuvo sin que sus conclusiones fueran aceptadas por Boister, Neil: The Application of..., op. cit, p. 431. Röling, B.V.A.: On Aggression, on International Criminal Law, on International Criminal Jurisdiction, Nederlands Tijdschrift voor International Recht, Vol. 2, No. 3, 1955, pp. 286-287. 39 Takatori, Yuki: The Forgotten Judge..., op. cit., p.117. 40 Futamura, Madoka: Individual and Collective... op. cit., p. 474. 37 38 19 Artigo 1 todas las partes de la sociedad japonesa (Cryer et al, 2010:119). El castigo criminal individual separó la sociedad japonesa no sólo de los criminales de guerra sino también de los crímenes de guerra en su conjunto, causando una apatía nacional hacia el Tribunal de Tokio y su significado. Al mismo tiempo, la percepción de la “justicia del vencedor’ dio la impresión de que el Tribunal estaba castigando colectivamente a los japoneses como una nación. Estos efectos han contribuido a la sensación ambivalente de la responsabilidad de Japón, que consiste en una mezcla de culpa, falta de interés, cinismo y frustración. Todo un problema para la reconciliación de Japón con sus vecinos y con su propio pasado41. A diferencia de Alemania, donde los acusados y condenados por crímenes de guerra fueron convertidos por la mayoría en parias de la sociedad, en Japón estas personas no fueron consideradas criminales sino victimas (Bassiouni, 2003:418). La experiencia del Tribunal de Tokio nos enseña la necesidad de reexaminar la estrategia de tribunales de crímenes de guerra internacionales y preguntar el entendimiento de lo que el derecho penal internacional puede conseguir y que forasteros pueden – y no pueden – hacer para promover actitudes de cambio y reconciliación42. El castigo para el crimen de guerra de agresión debe ser un acto de justicia internacional y no la simple satisfacción de una necesidad de venganza. Tokio deja un mensaje muy claro. Solo existe justicia internacional cuando además de los Estados vencidos, que son obligados a entregar sus ciudadanos a la jurisdicción penal internacional, los Estados victoriosos también transfieren la jurisdicción de sus ciudadanos que hayan delinquido contra el Derecho penal internacional al mismo tribunal. Referências Aroneanu, Eugene: La Définition de L’Agression, Les Editions Internationales, Paris, 1958. Andrés Domínguez, Ana Cristina: Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006. Bartman, Christi Scott: Lawfare: Use of the Definition of Aggressive War by the Soviet and Russian Federation Governments, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2010. Bassouni, M. Cherif: Introduction to International Criminal Law, Transnational Publishers, Inc., Ardsley, NY, 2003. Bernard, Henri: Dissenting Judgment of the Member from France of the International Military Tribunal for the Far East, 1948, en Boister, Neil y Cryer, Robert: Documents on the Tokyo International Military Tribunal. Charter, Indictment and Judgments, Oxford University Press, New York, 2008. Boister, Neil y Cryer, Robert: Documents on the Tokyo International Military Tribunal. Charter, Indictment and Judgments, Oxford University Press, New York, 2008. Boister, Neil: The Application of Collective and Comprehensive Criminal Responsibility for Aggression at the Tokyo International Military Tribunal. The Measure of Crime of Aggression? Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010. Brook, Timothy: The Tokyo Judgment and Rape of Nanking, The Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 3, Association for Asian Studies, 2001. 41 42 Ibídem, p. 480. Ibídem, p. 480. 20 UN ANÁLISIS JURIDICO-HISTORICO DEL CRIMEN DE GUERRA DE AGRESION EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE TOKIO Castillo Daudí, Mireya y Salinas Alcega, Sergio: Responsabilidad penal del individuo ante los tribunales internacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. Comyns-Carr, A. S.: The Tokyo War Crimes Trial, Far Eastern Survey, Vol. 18, No.10, Institute of Pacific Relations, 1949. Cryer, Robert: Röling in Tokyo, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010. Cryer, Robert; Friman, Hakan; Robinson, Darryl y Wilmshurst, Elizabeth: An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, second edition, Cambridge, 2010. Cuerda Riezu, Antonio y Jiménez García, Francisco: Nuevos Desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, Crímenes Internacionales y Derechos Fundamentales, Tecnos, Madrid, 2009. Darcy, Shane: Collective Responsibility and Accountability Under International Law, Transnational Publishers, Danvers, 2007. Dinstein, Yoram y Tabory, Mala: War Crimes in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/ Boston/ London, 1996. Ferencz, Benjamin B.: Defining Aggression: Where it Stands and Where it’s Going, The American Journal of International Law, Vol. 66, No. 3, 1972. Futamura, Madoka: Individual and Collective Guilt: Post-War Japan and the Tokyo War Crimes Tribunal, European Review, Vol. 14, No. 4, 2006. ___________: International Military Tribunal for the Far East. International Organization, Vol. 3, No. 1, 1949. Jackson, William Eldred: Putting the Nuremberg Law to Work, Foreign Affairs, Vol. 25, No. 4, Council on Foreign Relations, 1947. Japiassú, Carlos Eduardo Adriano: O direito penal internacional, Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2009. Jaranilla, Delfin: Concurring Opinion, 1948, en BOISTER, Neil/ CRYER, Robert: Documents on the Tokyo International Military Tribunal. Charter, Indictment and Judgments, Oxford University Press, New York, 2008. Jaudel, Étienne: Le process de Tokyo. Un Nuremberg oublié, Odile Jacob, Paris, 2010. Kemp, Gerhard: Individual Criminal Liability for the International Crime of Aggression, Series Supranational Criminal Law: Capita Selecta, Vol. 7, Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland, 2010. Komarnicki, M. Waclaw: La Définition de L’Agresseur dans le Droit International Moderne, Collected Courses of the Hague Academy of International Law 075. Martinus Nijhoff Publishers, 1949. Leonhardt, Hans: The Nuremberg Trial: A Legal Analysis, The Review of Politics, Vol. 11, No. 4, Cambridge University Press, 1949. Liu, James T. C.: The Tokyo Trial: Source Materials, Far Eastern Survey, Vol. 17, No. 14, Institute of Pacific Relations, 1948. Meltzer, Bernard D.: A Note on Some Aspects of the Nuremberg Debate, The University of Chicago Law Review, Vol. 14, No. 3, 1947. Nyiri, Nicolas: The United Nations’ Search for a Definition of Aggression, American University Studies, ser. 10, Vol. 22, Peter Lang Publishing, Inc., New York, 1989. Pastor, Daniel R.: El poder penal internacional. Una aproximación jurídica a los fundamentos del Estatuto de Roma, Atelier, Barcelona, 2006. Paulson, Stanley L.: Classical Legal Positivism at Nuremberg, Philosophy and Public Affairs, 21 Artigo 1 Vol. 4, No. 2, Blackwell Publishing, Princeton University Press, 1975. Rifaat, Ahmed M.: International Aggression. A Study of the Legal Concept: Its Development and Definition in International Law, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Humanities Press Inc., Atlantic Highlands, New Jersey, 1979. Röling, B.V.A.: On Aggression, on International Criminal Law, on International Criminal Jurisdiction, Nederlands Tijdschrift voor International Recht, Vol. 2, No. 3, 1955. Schrijver, Nico: B.V.A. Röling – A Pioneer in the Pursuit of Justice and Peace in an Expanded World, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010. Takatori, Yuki: The Forgotten Judge at the Tokyo War Crimes Trial, Massachusetts Historical Review, Vol. 10, 2008. Thornberry, Cedric: Saving the War Crimes Tribunal, Foreign Policy, No. 104, Washington post. Newsweek Interactive, LLC, 1996. Van Der Wilt, Harmen: A Valiant Champion of Equity and Humaneness. The Legacy of Bert Roling for International Criminal Law, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, 2010. Werle, Gerhard; Jessberger, Florian; Burchards, Wulf; Nerlich, Volker y Cooper, Belinda: Principles of International Criminal Law, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2005. Wright, Quincy: The Law of the Nuremberg Trial, The American Journal of International Law, Vol. 41, No. 1, 1947. Wynen Thomas, Ann Van y Thomas, A. J. Jr.: The Concept of Aggression in International Law, Southern Methodist University Press, Dallas, 1972. Zapico Barbeito, Mónica: El crimen de agresión y la Corte Penal Internacional en Criminal Law Between War and Peace, Justice and Cooperation in criminal matters in international military interventions, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2009. 22 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL Por Marcus Paulo Rycembel Boeira1 Resumo: Cultura é palavra derivada do latim colere, que quer dizer cultivar. No passado, a palavra cultura incorporou o sentido da antiga expressão humanitas, freqüentemente usada por autores medievais. Humanitas, também conhecida pela palavra latina civilitas, referia-se ao conjunto humano dedicado ao desenvolvimento do saber e do poder dos homens em sociedade. A humanitas era a própria civilização em seu devir histórico, arraigada e sustentada pelos valores da tradição religiosa dos antepassados. Incorporando o significado de humanitas, cultura hoje tem a ver com civilização, tradição e, sobretudo, com sociedade. Por essa razão, sua importância para a política no Estado Constitucional é indispensável, pois o devir civilizatório que é próprio de seu conceito é também o núcleo axiológico da tarefa de resolver conflitos entre tradições culturais diferentes, realidade política do mundo multicultural atual. E o Estado Constitucional aparece nesse cenário como nova realidade política e institucional voltada para a solução de conflitos entre tradições, através da promoção e defesa da verdade comum da pessoa humana e de seus valores. É disso que esse artigo trata, considerando cultura, tradição e Estado Constitucional três áreas da realidade concreta do homem indissociáveis e em permanente comunicação no contexto civilizacional atual. Palavras-chave: Cultura; Civilização; Estado Constitucional. Abstract: Culture is a word derived from the Latin colere, which means cultivate. In the past, the word culture has incorporated the meaning of the old expression humanitas often used by medieval authors. Humanitas, also known by the Latin word civilitas, referring to the whole human being devoted to the development of knowledge and power of men in society. The humanitas was civilization itself in its historical dynamic, sustained by the values of the religious tradition of their ancestors. Incorporating the meaning of humanitas, culture today has to do with civilization, tradition and, above all, society. Therefore, its importance for polics in the Constitutional State is necessary because the civilization that is becoming its own concept is also the core set of values of the task of resolving conflicts between different cultural traditions, political realities of multicultural world today. And the constitutional state appears in this scenario with new political and institutional focused on resolving the conflicts between traditions, promoting and defending the common truth of the human person and his values. That’s what this article deals, considering culture, tradition and constitutional state three areas of the man are inseparable and in constant communication in the context of civilizational today. Key words: Culture; Civilization; Constitional State. Marcus Paulo Rycembel Boeira. Doutor e Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). E-mail: [email protected] 1 23 Artigo 2 O significado originário de cultura A importância da cultura Os gregos e alguns povos primitivos do mundo ocidental separavam em dois os mundos da existência dos homens: o mundo da natureza e o mundo da cultura. Naquele tempo, muitas escolas gregas (escola cínica e estóica, por exemplo) acreditavam que os dois mundos eram inconciliáveis, havendo nesses casos uma prevalência pelo universo natural em combate ao mundo cultural, até então entendido como corrupto e vicioso. No entanto, tal distinção foi se mostrando cada vez mais incompatível frente ao processo histórico, que procurava, na medida de sua evolução, conciliar as duas ordens cosmológicas. Com o desenvolvimento da civilização ocidental, natureza e cultura mostraram ser realidades interdependentes, de modo que a cultura passou a ser vista como alguma coisa inserida na natureza mesma do homem em sociedade. Daí entender-se que a cultura está radicada na dimensão antropológica da realidade, do modo que sua inserção na natureza se processa por intermédio do ser humano em contato com o cosmos em sua existência política e histórica. Apesar disso, cultura e natureza possuem significados diferentes. A natureza é uma dimensão da realidade que aparece de pronto, como se mostra e da maneira que se apresenta de plano. O mundo cultural não é assim2. A cultura se processa no próprio espaço do agir humano em sua existência histórica. E, como tal, suscetível de mudança. A cultura, então, pode ser definida em primeira análise como “o produzir-se de um povo, de que a civilização é o produto, o resultado de sua realização criadora”3. Indica o devir, a dinâmica, a transformação e o desenvolvimento de uma sociedade humana em seu atuar na história. Essa transformação não se dá por uma mudança completa e absoluta. O tipo de transformação ocorrida na cultura é um devir que se sustenta no passado histórico. Por isso, a dinâmica aqui deve ser entendida como algo que se desenvolve tendo por base uma tradição. A tradição, escolha originária que prioriza um conjunto de valores herdados dos antepassados e que é feita pela “autoridade” da religião em uma civilização, serve de base para o desenvolvimento da cultura, de modo que não há dinâmica cultural sem uma base arraigada nos valores fundamentais da assim chamada tradição4. Entre as unidades políticas antigas5, o conhecimento sobre a importância da tradição era bastante difundido. Com o Estado Moderno, o advento da filosofia racionalista e do secularismo, a tradição foi deixando de ser “fundamento” para a cultura e para as ciências práticas, torFERRATER MORA, Jose. Diccionario de Filosofia, p. 377. DOS SANTOS, Mário Ferreira. Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais, p. 393. 4 FRIEDRICH, Carl. Tradição e Autoridade em Ciência Política, p. 52. 5 Unidade política quer dizer tipo de ordem política existente em uma dada comunidade específica no tempo e no espaço na história de uma civilização. Exemplos de unidades políticas civilização ocidental: pólis para os gregos, civitas para os romanos, reino para os medievais na era Cristã e assim por diante. 2 3 24 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL nando-se obsoleta frente aos modernos clichês racionalistas. No século XIX, a tradição ganhou contornos heréticos, com o auge do romantismo, do idealismo e do positivismo. No século XX, em pleno desenvolvimento político e econômico dos Estados Europeus, o mundo presenciou a prática dos regimes totalitários, originados justamente pela negação política da importância da tradição6. Após a segunda guerra mundial, a Europa passou a vivenciar um novo tipo de Estado: o chamado Estado Constitucional. Esse, a bem da verdade, foi e ainda é o caminho encontrado para buscar aquilo que fora negado pelo totalitarismo: a recuperação da tradição e dos valores na raiz da política (como veremos ao final desse artigo)7. Portanto, tradição é, hoje, um conceito indispensável para se compreender a cultura no cenário atual da política contemporânea. Definição de cultura: autoridade, tradição e civilização O conceito de tradição está intimamente ligado ao de autoridade. “Auctoritas”, termo latino muito conhecido na era da civitas romana, deriva de “augere”, que significa aumentar ou ampliar. Condiz com a escolha decisiva e originária (daí autoridade) acerca do caminho a ser percorrido pela civilização, concebendo assim o respeito e a importância por um conjunto de valores essenciais que passam a formar a tradição8. Sendo conceitos complementares, tradição e autoridade refletem o aumento (no tempo e no espaço) do respeito e da importância pelas gerações futuras em relação aos valores religiosos dos antepassados, bem como sua relevância indispensável para o desenvolvimento cultural na história de uma civilização9. Dentro desse aspecto, a cultura aparece como dinâmica de um agrupamento de diversas sociedades humanas enraizadas em certo conjunto de valores originários da tradição e que se transformam a partir de tais valores, como se a autoridade da tradição exercesse forte influência no agir histórico desses povos. Assim, o devir histórico da civilização (cultura) encontra na tradição o elemento fundamental para a inserção de novas descobertas e práticas sociais no próprio contexto cultural em questão, de modo que a tradição aparece decisivamente nos momentos em que a civilização se vê em choque com outras realidades culturais. Aliás, é a autoridade da tradição exercida sobre a história de uma civilização que permitirá que tal agrupamento de sociedades se mantenha de pé, firme em seu devir histórico e preparado para enfrentar possíveis choques culturais existentes. A cultura, então, é o desenvolvimento da tradição. Nessa dinâmica, tanto a atualização dos valores da tradição na própria realidade social como também o choque com outras novidaARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 43 e seguintes. VOEGELIN, Eric. A Nova Ciência da Política, p. 18. FRIEDRICH, Carl. Tradição e Autoridade em Ciência Política, p. 117. 7 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 128. ARENDT diz que a crise do mundo moderno “é política em sua origem e natureza. O ascenso de movimentos políticos com o intento de substituir o sistema partidário, e o desenvolvimento de uma nova forma totalitária de governo, tiveram lugar contra o pano de fundo de uma quebra mais ou menos geral e mais ou menos dramática de todas as autoridades tradicionais. Em parte alguma essa quebra foi resultado direto dos próprios regimes ou movimentos; antes, era como se o totalitarismo, tanto na forma de movimentos como de regimes, fosse o mais apto a tirar proveito de uma atmosfera política e social geral em que o sistema de partidos perdera seu prestígio e a autoridade do governo não mais era reconhecida”. 8 FRIEDRICH, Carl. Tradição e Autoridade em Ciência Política, p. 52. CARPEAUX, Otto Maria. Ensaios Reunidos: volume I, p. 200. 9 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 130. 6 25 Artigo 2 des culturais são inevitáveis. Os choques eventuais entre tradições podem ocasionar a repulsa imediata ou a abertura para o diálogo e, daí, o intercâmbio cultural, isto é, a inserção de novos elementos e práticas de uma outra cultura no âmbito interno de uma tradição. O desenvolvimento desses conflitos e inserções constitui a existência histórica de determinados agrupamentos sociais homogêneos a que chamamos de civilização. A civilização, palavra que possui uma definição histórica próxima de cultura, deriva de “civilitas”. Para o propósito dessa investigação, civilização significa o resultado da junção entre tradição e cultura, ou seja, entre valores e dinâmica histórica. Resumidamente, então, a Autoridade elege alguns valores fundamentais que servirão de base para uma tradição. Por sua vez, essa tradição servirá de base para a cultura, que passa a indicar desenvolvimento e depuração de tais valores na existência humana histórica e concreta. À somatória desses elementos denominamos civilização. Os valores escolhidos10 pela auctoritas sustentam a tradição e, enquanto tais, exercem fortíssima influência sobre o desenvolvimento das gerações futuras. Diante disso, a cultura é a operação desses valores na história, originando uma dialética fundamental no existir histórico antropológico. Os valores, assim, vão servindo de guias e de peças importantes para que uma civilização possa julgar os possíveis enfrentamentos com outras tradições, avaliando se aquilo que se apresenta como “cultura” diante de si possui “valor” ou não, a saber, se pode inculturar-se na tradição da civilização ou ser descartado no processo histórico. Como ensina Mario Ferreira dos Santos, “a civilização é, em suma, a exteriorização da cultura, e, também, a estratificação dos resultados obtidos”11. Esta estratificação é justamente fruto do diálogo que se trava a fim de se verificar, a cada choque cultural, o que é valioso para uma civilização e o que não é. Resta claro, daí, que cultura é o devir civilizatório em operação, tendo como ponto de partida uma base radicada nos valores e sustentada pela autoridade da tradição, encerrando uma dinâmica que se derrama na história e que se mostra indispensável para a existência do homem na história concreta. Importância da cultura na ordem concreta da realidade Três pontos sustentam o significado de cultura: tradição, história e civilização. Tradição como resultado da escolha pela autoridade por um conjunto de valores fundamentais que dão origem ao próprio sentido de cultura; história como o próprio desenvolvimento da existência do homem e sua dialética com a realidade12; civilização como o conjunto de sociedades e comuniOs valores aí aparecem como resultado da escolha realizada na realidade. Sobre isso, Mário Ferreira caracteriza os valores como fruto dessa eleição, dizendo que “há um selecionar cósmico: o existir é a revelação de uma selectividade, de uma escolha, em que tais ou quais formas são aceitas aqui, repudiadas ali, segundo as diversas constelações das coordenadas da realidade. Ora, onde há escolha, há uma ruptura da indiferença. Não é indiferente acontecer isto ou aquilo. A própria ordem universal é a revelação dessa selectividade, dessa intelectualidade cósmica, universal, que aqui escolhe deste modo, ali de outro. Portanto, há ruptura da indiferença, ao mesmo tempo que se verifica que as coisas são preteridas ou preferidas umas pelas outras, segundo os múltiplos relacionamentos. Onde há selectividade, há escolha; onde há escolha, há preferência de uma coisa a outra; onde há preferência, há ruptura da indiferença, portanto preterições, e, conseqüentemente, valor”. DOS SANTOS, Mário Ferreira. Filosofia concreta dos valores, p. 14. 11 DOS SANTOS, Mário Ferreira. Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais, p. 393. 12 Sobre o sentido aqui empregado de história, ver LONERGAN, Bernard. Collected Works: philosophical and theological 10 26 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL dades humanas que compartilham – mesmo que a custa de diferenças habituais e práticas – de uma mesma tradição como ponto de partida. Na tradição, os valores13 ocupam lugar de destaque. São os valores princípios substanciais e indicativos de como o ser humano se insere nesse mundo, qual lugar ocupa na história e de que modo procura a vida boa14. Assim, os valores correspondem aos princípios fundamentais para um existir coerente do homem e, acima de tudo, para uma boa organização da comunidade humana. Enquanto tais, os valores assumem a forma do que é certo e desejável para uma civilização15. Estimados por corresponderem a tradição e por serem decorrências diretas do plano divino16, mostram-se fundamentais para a estabilidade e perenidade da cultura. Os valores, assim, se originam de algo. A substância do valor, assim como sua estrutura, está vinculada aos antepassados. Mas, por que razão princípios unidos ao passado de uma civilização possuem autoridade sobre o desenvolvimento da cultura, isto é, por que a tradição influencia decisivamente o desenvolvimento dos povos? A resposta a tal pergunta, necessariamente, deve recorrer àquilo que está detrás da auctoritas que elege tais valores para constituir uma tradição, a saber, uma religião. Como afirma Ratzinger, “o núcleo das grandes culturas radica em que elas interpretam o mundo em relação com o Divino”17. A filosofia da antiguidade era lúcida quanto a autoridade das religiões sobre a formatação de uma tradição, de modo que sabia-se da importância do plano divino para se justificar a realidade da ordem concreta dos homens18. Em alguns pensadores da antiguidade, como Platão, por exemplo, a vida prática da ação (realização de virtudes morais) era compreendida como uma tentativa de resposta do homem com relação à realidade da presença divina enquanto significado transcendente19. Quanto a política, então, a boa pólis com cidadãos virtuosos e valores realizados corresponderia a uma projeção do que seria em verdade a boa alma da cidade política. A saber, a ordem certa da comunidade não é um Estado Ideal, mas o desenvolvimento de uma papers, p. 54 e seguintes. 13 MONDIN, Batista. Os Valores Fundamentais, p. 17. MONDIN define valor em seu sentido ontológico dizendo que “exprime a qualidade pela qual uma coisa possui dignidade e é, portanto, digna de estima e de respeito”. E adiante acrescenta que “tudo o que é considerado precioso e que, de qualquer modo, pode aperfeiçoar o homem, como indivíduo ou como ser social, merece estima e é por isso um valor. Disso decorre a enorme vastidão e a grande complexidade do mundo dos valores”. 14 RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo, p. 59. 15 MONDIN, Batista. Os Valores Fundamentais, p. 154. MONDIN nos diz que “para que o valor bondade (do fim último) tenha realmente peso e autoridade, é necessário que o homem disponha de uma faculdade que o ilumine sobre a dignidade axiológica das próprias ações e que seja, por outro lado, munido do poder de realizá-las. Por esse motivo, a constelação axiológica da moral abrange, primeiramente, valores noéticos que ajudam a razão a reconhecer a dignidade axiológica das várias ações a que o homem é chamado a realizar em sua vida: a consciência, a lei natural, as leis positivas, as tradições e os costumes, etc. Em segundo lugar, abrange valores práticos que dão à vontade a força de realizar as ações que reconhecem como boas: as paixões e as virtudes”. 16 RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo, p. 59. 17 RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo, p. 60. 18 REALE, Giovanni. O saber dos antigos: terapia para os tempos atuais, p. 172. REALE faz uma observação interessante sobre o significado do plano espiritual no pensamento clássico, dizendo que “a partir de Sócrates, o homem pensou a si mesmo em termos de psyche e corpo, e reconheceu na psyche sua melhor parte. Observe-se que a palavra psyche, que habitualmente traduzimos por alma, indica a sede da inteligência e do querer, ou seja, a sede dos valores humanos intelectuais e morais. Os gregos identificaram nela a parte de nós destinada a sobreviver à morte do corpo. Os próprios materialistas, que negam a existência de qualquer realidade espiritual, não conseguiram encontrar um meio de escapar inteiramente dessa concepção, na medida em que foram obrigados a se haver com ela, mesmo com o objeto de tentar destruí-la, para encontrar uma identidade própria. A descoberta e a base teórica do conceito de psyche assinalaram uma verdadeira revolução espiritual, e constituíram uma conquista irreversível, tanto para os que crêem quanto para os que não crêem na existência da realidade espiritual, na medida em que o homem não pode voltar a ser pensado como o era antes da descoberta desse conceito”. 19 VOEGELIN, Eric. Order and History, p. 135 e seguintes. 27 Artigo 2 oposição concreta às desordens da pólis do tempo de Platão20. Nesse sentido, Platão e grande parte do pensamento filosófico da antiguidade compreendiam o mundo concreto em dois planos: o plano empírico e o plano espiritual, sendo os dois reais, concretos e verdadeiros. Assim, a ordem concreta da sociedade política era vista como que a própria estrutura da realidade21, constituída por esses dois planos interdependentes e mutuamente conciliados. A tarefa do filósofo naquele tempo, então, era a de averiguar a essência da alma boa da pólis por meio da descoberta da verdade. Ao assim proceder, poderia então ter consciência acerca dos “valores” (derivados do plano espiritual), o que lhe facultaria a possibilidade de avaliar – a luz desses princípios - de que modo a realidade empírica poderia ser mudada a fim de se adequar aos mesmos. Segundo a tradição clássica do pensamento filosófico ocidental (conectada a importância do pensamento grego nas figuras de Platão e Aristóteles, assim como às religiões Judaica e Cristã22), a vida boa23 de uma sociedade política não se justifica apenas pela racionalidade de suas instituições, senão também pelos valores herdados do plano espiritual e sua oposição concreta aos vícios do plano existencial do homem. Portanto, é possível dizer que os valores que fundamentam a tradição na cultura de uma civilização possuem uma ligação direta com o Divino, pois uma Religião autêntica e concisa ocupa papel fundamental na dinâmica cultural de uma civilização. Em uma oração: a religião fornece “identidade” para uma civilização24. A compreensão sobre a substância dos valores, assim, é algo que transcende o plano experimental da mera existência e busca fundamentar-se no plano invisível do divino25. Religião, Tradição e Cultura A “autoridade” da escolha originária em uma tradição está apoiada na Religião. Religião é palavra relacionada ao termo latino “religatio”, derivado de “religare”, que significa “vincular” ou “atar”. No caso, Religião expressa um vínculo dos homens com a divindade, isto é, uma subordinação do homem em relação a Deus. Porém, como aduz Ferrater Mora, quando se fala VOEGELIN, Eric. Order and History, p. 135 e seguintes. Nesse sentido, ver ZUBIRI, Xavier. El Hombre y la Verdad, p. 105 e seguintes. 22 STRAUSS, Leo. ? Progreso o retorno?, p. 149. 23 ARISTÓTELES. Política, p. 53. A expressão vida boa é utilizada tendo por base o sentido tratado por Aristóteles na Política. Quer dizer felicidade, isto é, o fim para importante para uma comunidade política. Por isso, vida boa pode ser entendida como bem comum. 24 Nesse sentido, interessante observar o que disse GUÉNON sobre a falsa oposição entre o oriente e o ocidente que se costuma fazer hoje em dia, bem como sobre a importância dos princípios da religião para uma tradição: “Uma das características particulares do mundo moderno é a cisão entre Oriente e Ocidente, e, ainda que tenhamos tratado da questão de forma específica, é necessário voltar a ela para precisar alguns aspectos e dissipar certos mal-entendidos. A verdade é que sempre existiram civilizações distintas e múltiplas, cada uma das quais se desenvolveu da forma que lhe era própria e de acordo com as aptidões dos diversos povos ou raças; mas a distinção não quer dizer oposição, e pode existir uma espécie de equivalência entre civilizações muito diferentes desde o momento em que todas se baseiam nos mesmos princípios fundamentais, que aplicam de formas diversas em função das distintas circunstâncias. Tal é o caso de todas as civilizações que podemos chamar de normais, ou também tradicionais; não existe entre elas nenhuma oposição essencial, e as divergências, se existem, não são mais que externas e superficiais. Em contrapartida, uma civilização que não reconheça nenhum princípio superior, que só se baseia na negação dos princípios, carece por si mesma do entendimento com relação as outras, pois esse entendimento, para ser profundo e eficaz, só pode se estabelecer para acima, vale dizer, precisamente por aquilo que falta a essa civilização anormal e desviada. No estado atual do mundo temos, por um lado, as civilizações que permaneceram fiéis ao espírito tradicional, que são as civilizações orientais, e, por outro, uma civilização propriamente antitradicional, que é a civilização ocidental moderna”. GUÉNON, René. La crisis del mundo moderno, p. 30 e 31. 25 LAVELLE, Louis. Studi sul pensiero contemporaneo, p. 146 e seguintes. 20 21 28 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL em Religião nesse propósito pode-se entender o termo em dois sentidos específicos: “como vinculação do homem a Deus ou como união de vários indivíduos para o cumprimento de ritos religiosos”26. No primeiro caso, tratamos da relação fundamental entre o Criador e a criatura, a ver, do modo como o Criador se relaciona com a criatura em uma comunicação baseada na Fé verdadeira do segundo e na existência real e singular do Primeiro. No segundo caso, estamos a presenciar o conjunto de cerimônias que constituem o modus vivendi de uma civilização em relação a sua Religião, ou melhor, a liturgia moral de uma tradição. Por isso, como vemos, a Religião não é apenas a “comunicação” com Deus, mas também a base de sustentação da autoridade de uma tradição no que diz respeito aos seus valores morais. Nesse contexto, a realidade cultural de uma tradição é o devir contínuo dessa liturgia moral, sendo que a Religião é a base fundamental de sustentação dessa dinâmica da civilização. Por essa razão, grande parte da escola antropológica realista afirma que a cultura, assim como a civilização que é seu produto, não se sustenta nem se justifica realmente sem uma grande tradição religiosa27. Otto Maria Carpeaux diz que uma tradição se estrutura pela “escolha” feita pela autoridade e pela “continuidade”. Adiante, acrescenta que a cerimônia e a transmissão entre gerações formam o próprio caráter pedagógico da tradição28. A “escolha” da autoridade, a saber, a seleção dos valores constitutivos da tradição é obra da Religião, ao passo que a continuidade e a pedagogia são tarefas da própria cultura. Eis aí, portanto, a base ontológica de uma civilização: religião, autoridade, tradição, valores e cultura. Dentro da questão, podemos referir cultura como sendo a própria causa originária da ontologia da realidade antropológica, de maneira que o modo de existência histórica do homem é uma dinâmica que atualiza os valores da tradição no tempo e no espaço, seja concretizando-os ou ainda colocando-os à prova diante da diversidade. Nesse aspecto, a investigação ofertada pelas ciências práticas na busca da verdade e da essência das coisas em vínculo com a metafísica, do qual derivam, mostra-se conectada a cultura. O potencial investigativo de cada ciência está em conexão com a dinâmica cultural, assim como as artes ou mesmo a própria filosofia29. Há uma unidade central na cultura, que lança raízes sobre a filosofia, as artes e as ciências. Por isso, apoiada nos valores da tradição, a cultura transborda uma centralidade axiológica que atinge a toda a realidade cosmológica da pessoa humana em sua existência histórica30. Fica claro, disso, que a cultura, apoiada na tradição religiosa e na escala selecionada de valores surgidos daí, condiz com a forma existencial do humano na história e, assim, com a transformação mesma do homem que produz e atualiza a civilização. Dentro dessa linha, a cultura passa a ser o mundo reflexivo do homem em relação ao plano supra-racional da Religião. Porém, como também é centrada na história, possui uma raiz fundada na concepção antropolóFERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía, p. 1612. RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo, p. 59. GUÉNON, René. La crisis del mundo moderno, p. 30. GIRARD, René. Los orígenes de la cultura, p. 83 e seguintes. 28 CARPEAUX, Otto Maria. Ensaios Reunidos: volume I, p. 204. 29 FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía, p. 378. 30 FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía, p. 378. 26 27 29 Artigo 2 gica e, por isso, essencialmente política. Cultura e Política Se, como diz Aristóteles, o homem “é um ser vivo político”31, o é porque não sobrevive isoladamente, mas em comunidade. E, por essa razão, a existência política do homem é uma existência que se realiza na comunicação – logos – com os outros e, daí, no modo como o ser humano se insere em uma sociedade e, disso, na civilização. A existência histórica do homem, por sua vez, é uma existência política32, pois enquanto animal político dotado de razão e palavra (logos), o homem é um ser histórico e concreto que age para realizar os valores e para transformar a realidade dinamizando a cultura. Como se vê, a política, enquanto dimensão essencial do homem ou então como ciência prática investigativa, está abraçada a cultura. Desta, a política se sustenta pelos valores da tradição e pelo dinamismo cultural provocado na civilização, para daí então cuidar do modo de organizar racionalmente uma comunidade política33. A cultura é a dinâmica da civilização, a política é o devir genético de uma comunidade. A cultura é a operação dos valores, a política é a concreção dos mesmos. Cultura e política, embora distintas, andam juntas, em uma relação simbiótica em que a política encontra na cultura o seu ponto de apoio. Sim, pois os valores originários da cultura (tradição) são os pontos cardeais para que a política se mantenha fiel a sua raiz ontológica: existência humana em sociedade. Sim, pois, política sem tradição é igual a poder sem limites, cujo resultado é o totalitarismo34. Multiculturalismo e o encontro de tradições O multiculturalismo como intercâmbio cultural: o encontro entre tradições Vimos como a cultura é entendida a partir de sua consideração originária e ontológica. Dentro disso, também tratamos do ponto que sustenta a própria existência da cultura: a tradição. E, como a realidade é composta de várias tradições, precisamos averiguar de que maneira o encontro entre diferentes tradições se resolve. No mundo atual, o termo “multiculturalismo” passou a ser utilizado justamente para indicar a convivência em uma mesma esfera pública de várias tradições. A esfera pública a que referimos pode ser entendida no plano local de cada Estado ou ainda no plano das relações internacionais com a globalização. De qualquer modo, o problema do choque entre tradições é um problema que vai além da mera análise político-geográfica, sendo que o modo de se solucionar tais questões é obra da força civilizatória de cada cultura em sua abertura para o diálogo, buscando-se, assim, descobrir quais os valores comuns ARISTÓTELES. Política, p. 15. VOEGELIN, Eric. A Nova Ciência da Política, p. 17. 33 Sobre a questão, ver FERRERO, Guglielmo. Poder: los genios invisibles de la ciudad, p. 87 e seguintes. 34 HUYN, Hans Graf. Sereis como Dioses: vicios del pensamiento político y cultural del hombre de hoy, p. 211. Diz o autor que “os regimes totalitários, certamente, mas também nessas sociedades ‘livres’ empapadas de materialismo, o culto ao ego próprio do homem autônomo, esse homem que se sente o umbigo do mundo, vem a fazer impossível a convivência entre os homens. O homem autônomo não pode erigir-se em um deus para o homem. Se tudo for lícito, nada mais terá sentido, e se há de ser factível qualquer coisa, tudo poderá ser destruído”. 31 32 30 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL entre tradições distintas. Em uma tradição cultural, os valores iniciais servem de parâmetro crítico para a novidade que vai surgindo no desenvolvimento da cultura. Mas, cabe a pergunta: como a novidade cultural vai sendo depurada e como se junta ao contexto cultural interno de uma tradição? O choque entre culturas, isto é, o contato entre uma tradição e outra nas respectivas dinâmicas civilizacionais de cada uma, se armazena em duas etapas: na primeira, correspondente ao plano existencial, o contato primário se estabelece mediante um conflito prévio em que a apreensão da realidade simbólica alheia se dá de forma primária, isto é, pelo mero dado da sensibilidade civilizacional. Nesse momento, sucede a incorporação de alguns valores comuns entre ambas tradições. Já na segunda etapa, quando a tradição já absorveu os pontos aparentemente concordes da novidade cultural simbólica (outra tradição cultural), submete tais valores comuns absorvidos à contextos sociais mais amplos, a fim de averiguar a aplicação concreta de tais símbolos, estabelecendo, assim, a extensão de seus “reais” valores comuns. Isto é assim porque, nesse segundo estágio, os símbolos incorporados serão testados e avaliados pela tradição. Caso o teste prático resulte afirmativo, tais valores são introjectados na tradição, passando a fazer parte do contexto civilizacional respectivo. Permite-se, assim, um exame concreto de tais símbolos novos na realidade existencial da tradição receptora, verificando-se a compatibilidade prática do que foi absorvido como cultura no próprio ambiente interno de cada civilização. À essa incorporação simbólica precedida de um choque de tradições chamamos de intercâmbio cultural. O intercâmbio entre culturas, assim, ocorre quando uma tradição possui abertura para a novidade de outras tradições, incorporando valores comuns entre ambas. O intercâmbio, nesse sentido, aparece como modo atual de solução dos problemas do multiculturalismo, pois demonstra o caminho para consenso prático entre os diferentes modos do existir humano. Por outro lado, o desenvolvimento cultural ocorre por meio de uma transmissão contínua dos valores fundamentais de uma tradição. A bem da verdade, não há cultura sem um “iter”. Aí se trava a chamada dialética civilizacional, a saber, a continuidade litúrgica dos valores de uma tradição em contraste constante com as novidades simbólicas de outras tradições, em que se depuram os valores incompatíveis e se incorporam os valores comuns. O choque entre o que já é cultura e o que está por ser, não ocasiona apenas a atualização da própria tradição e de todas as suas potencialidades de abertura para o diálogo, senão também a transmissão dos valores originários dessa mesma cultura para as gerações futuras, mostrando-se, com isso, a perenidade dos valores fundamentais na história concreta do existir humano em uma civilização. Os valores comuns como expressões da verdade comum do ser humano Ratzinger, em seu Fé, Verdade e Tolerância, afirma que “a inculturação pressupõe (...) a universalidade potencial de cada cultura. Pressupõe que em todas atue a mesma essência humana, 31 Artigo 2 e que nelas viva uma verdade comum do ser humano, uma verdade que tende à união”35. O intercâmbio mostra-se presente sempre que uma tradição possua abertura para a novidade simbólica de outra cultura, desde que os valores de ambas sejam comuns. No mais das vezes, porém, a abordagem que se faz sobre valores comuns costuma ser feita sobre pontos acidentais, impendindo-se, assim, o caminho para o consenso. Isto porque quando se trata de choque entre culturas, comumente se verifica a própria cerimônia de cada tradição e o que há de comum entre liturgias culturais. Ora, como cada cultura possui uma base de sustentação vinculada a uma dada Religião, e, ainda, como cada religião possui liturgias distintas, é corrente se pensar que o intercâmbio é impossível. No entanto, o intercâmbio não está na averiguação de características comuns da liturgia das tradições religiosas, mas sim no fundamento comum de ambas com relação ao tratamento dado ao ser humano. Por isso, o encontro intercambiante não é tanto um problema de encontrar hábitos comuns entre religiões (o que é extremamente difícil), mas sim o de verificar como cada tradição trata da dimensão antropológica da realidade. Ou seja, quais são os valores da pessoa humana que sustentam uma tradição acima de tudo, bem como tais valores são entendidos em sua perspectiva universal. Desse modo, o encontro de tradições será precedido de uma etapa prévia de investigação a partir da própria cultura, para então se poder avaliar como o encontro será efetuado. Essa etapa prévia será indispensável porque aí os valores humanos serão detectados e então submetidos a contextos sociais mais amplos. Na sujeição à universalidade, os valores poderão ser intercambiados em outra tradição quando corresponderem também a esta. Nesse sentido, os valores relativos ao ser humano, enquanto expressões da verdade comum de toda e qualquer pessoa humana, serão necessariamente descobertos em cada tradição, para daí serem submetidos ao processo de intercâmbio. Aí, isto é, no encontro de culturas, tais valores serão a base de sustentação da viabilidade do diálogo e do consenso. O multiculturalismo, assim, pode ser resolvido quando as tradições culturais existentes em uma mesma esfera pública (local ou global) possuírem uma abertura para a universalidade, assim como uma concepção verdadeira acerca da pessoa humana, entendendo-a como epicentro da sociedade. Entre as grandes tradições religiosas, a pessoa humana figura como fundamento do corpo social, sendo entendida como ser digno à alguns direitos que lhe são inalienáveis. O intercâmbio entre culturas é facilitado quando essa orientação comum é detectada em cada uma das tradições em questão36. Qual o papel da política no multiculturalismo? O papel da política no multiculturalismo é o de servir de força civilizatória para que a verdade comum do ser humano apareça como finalidade das instituições que regem o espaço público onde o encontro das diferentes tradições se sucede. 35 36 RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo, p. 59. RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo, p. 59. 32 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL Vimos que o consenso entre tradições culturais e religiosas distintas é possível quando há universalidade e vontade comum de tratar a pessoa humana como fundamento e finalidade. O ser humano, enquanto ser político, é voltado para a vida em comunidade. Mas a convivência com o diferente, com o novo, com o estranho, é sempre muito difícil. É algo que exige o teste prático da existência concreta para que o consenso ocorra de modo lento e gradual. A comunidade é a pressuposição para a realização do ser humano e, por isso, cada pessoa humana – por sua condição política nuclear – necessita de outras para atualizar suas potencialidades humanas fundamentais. A saber: o homem procura “ser pessoa” de modo potencial. E, para que possa desenvolver-se a fim de existir “sendo” pessoa, indispensável é que coexista com o “outro”, em uma comunidade disposta a bem viver e a bem coexistir37. Conquanto haja uma comunidade que oferta aos seus indivíduos a possibilidade de exercerem, cada qual, suas liberdades em busca de existirem enquanto seres humanos38, aí estará a verdadeira comunidade humana política. Sim, pois, enquanto espaço das liberdades, a comunidade permite o desenvolvimento potencial de seus membros, atuando também como ponto cardeal na dinâmica da cultura, pois abre espaço para que a “novidade” engendrada pelo livre atuar de seus membros se transforme também em cultura mediante a depuração cultural. Ademais, a política, entendida aqui como meio civilizatório de regular conflitos surgidos internamente na comunidade39, também o é enquanto modo de transmitir os valores da tradição para as gerações futuras, buscando realizar uma gama de finalidades comuns almejadas no seio da própria comunidade. E é justamente a “gama de fins comuns”40 que constitui o aspecto civilizatório da política. Isso se deve ao fato de que os “fins comuns” são conceituações políticas do que na verdade são os valores de uma tradição. Ou seja, no plano político, os valores constitutivos da cultura são entendidos como objetivos almejados na solução dos conflitos internos da comunidade. Daí dizer que a política é uma dimensão importante da cultura, subordinada a esta e dela dependente41. De fato, não há política sem comunidade. Tampouco comunidade sem cultura. Ora, se a tradição cultural é a própria identidade de uma comunidade no sentido existencial, e esta é por natureza “política” (uma vez que composta de seres vivos políticos42), não há dúvida de que a política é também o braço imperativo da tradição cultural43, vez que oferece os modos de solução dos conflitos com base na transmissão dos valores culturais originários para as futuras gerações. Em uma frase: se a atualização da cultura é o que liga uma geração à outra, a política serve como ponte para tanto, pois enquanto meio, a política opera um tipo de relação na realidade existenPOLO, Leonardo. La persona humana y su crecimiento, p. 10. Afirmamos, com base em Aristóteles, que o ser humano só “existe” efetivamente enquanto ser comunitário, pois fora da comunidade não existe vida humana. Aristóteles diz que fora da pólis só existe Deus ou a bestialidade. ARISTÓTELES. Política, p. 55. 39 FREUND, Julien. Che cos`è la política?, p. 19 e 254. 40 FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights, p. 152. FINNIS diz que “mais que a multiplicidade de interações, o constitutivo dos grupos humanos, das comunidades e das sociedades, é a participação em uma meta (...), o propósito compartido de A e B de que suas atividades estejam coordenadas, ou por que querem a interação coordenada por si mesma ou então por quererem um objetivo compartido ulterior”. 41 FREUND, Julien. Che cos`è la política?, p. 254. 42 ARISTÓTELES. Política, p. 53. 43 FREUND, Julien. Che cos`è la política?, p. 254. 37 38 33 Artigo 2 cial em que a atualização dos valores da pessoa humana na ordem concreta corresponde a força civilizatória que está no alicerce do modo de regular conflitos. Diante disso, resta verificar de que tipo de comunidade se está tratando quando se analisa o mundo contemporâneo. Na verdade, a política é a natureza de toda e qualquer comunidade composta de homens44. Porém, sua maneira de resolver os problemas derivados da convivência humana varia conforme a época e o lugar. Na atualidade, o multiculturalismo exige uma tarefa mais difícil para a política: o de servir como marco consensual para as diferentes tradições religiosas e culturais. Nesse particular, então, importa considerar o modo como a atual política trabalha em direção ao consenso entre tradições. E tal modo chama-se Estado Constitucional. O estado constitucional como força civilizatória no marco do encontro entre tradições O Estado Constitucional é o casamento bem sucedido entre a unidade política contemporânea e a Constituição. Tal casamento pode ocorrer mediante a mera formalidade jurídico-política de se elaborar uma Constituição e submeter o Estado ao seu poder normativo. Porém, tal casamento por si só não responde ao problema do multiculturalismo. Desde o século XVIII esse casamento acontece em praticamente todos os Estados do mundo ocidental. Porém, do período alto do iluminismo até a primeira metade do século XX o constitucionalismo mostrou ser muito diferente do que é hoje45. De fato, a resposta do Estado Constitucional ao problema não está no casamento em si, mas no modo como a Constituição é feita e como trata das relações políticas ocorridas no Estado. Nesse sentido, o Estado Constitucional aparece como o modelo contemporâneo de solucionar os problemas decorrentes do conflito entre tradições46, isto é, como conjunto de instituições políticas e jurídicas voltadas para a defesa e promoção de valores comuns da pessoa humana47. De fato, é o Estado Constitucional um tipo de Estado constituído após a segunda guerra mundial na Europa Continental48. Com o término das catástrofes totalitárias que varreram a Europa em nome de ideologias salvacionistas, utópicas e gnósticas49, os Estados europeus sentiram a necessidade de buscar meios efetivos para a defesa e promoção dos valores da pessoa humana. Para isso, fizeram com que tais valores passassem a ser “categoria jurídica”, isto é, se tornassem normas jurídicas obrigatórias. Para tanto, depositaram tais valores no texto das Constituições do pós-guerra, tornando-as modos legítimos e eficazes de defesa da pessoa humana. Além disso, tais Constituições também se preocuparam com a maneira política-estrutural de aplicar tais normas axiológicas na realidade.Assim, em sentido morfológico, os Estados euARISTÓTELES. Ética Nicomáquea, p. 132 e seguintes. FRIEDRICH, Carl. Teoría y realidad de la organización constitucional democrática (en Europa y América), p. 35. 46 Sobre constitucionalismo e tradição, ver PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do Direito, p. 38 e seguintes. 47 FRIEDRICH, Carl. Teoría y realidad de la organización constitucional democrática (en Europa y América), p. 30. Tratando das origens históricas do constitucionalismo, FRIEDRICH nos diz que “essa fé no valor de cada um dos seres humanos obriga a buscar um equilíbrio (...) em algum sistema de limitações que proteja o indivíduo, ou pelo menos as minorias, contra todo exercício despótico da autoridade política”. 48 FRIEDRICH, Carl. Gobierno Constitucional y Democracia, p. 637 e seguintes. GRASSO, Pietro Giuseppe. El problema del constitucionalismo después del Estado Moderno, p. 74 e seguintes. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 46. 49 VOEGELIN, Eric. A Nova Ciência da Política, p. 85 e seguintes. 44 45 34 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL ropeus também construíram, a partir do marco normativo do novo constitucionalismo, um modelo de instituições políticas estatais voltadas para a defesa e realização dos valores da pessoa, limitando rigorosamente o poder político por intermédio do Direito Constitucional50. Portanto, o Estado Constitucional aparece como marco civilizatório51: torna a Constituição um documento normativo vinculante, expositor de valores fundamentais para o ser humano, ao tempo em que oferta um modelo de instituições voltadas para a promoção desses valores. Em sentido formal, portanto, a Constituição serve de parâmetro para o Direito e para a política, sendo verdadeiro ponto de partida para o modo de operar jurídica e politicamente do Estado. Em sentido material, a substância da Constituição contemporânea está na afirmação positiva que faz sobre os valores do ser humano, definindo o que é fundamental para a existência humana concreta, existencial e integral. Nesse particular, fica claro que o Estado Constitucional assume uma tarefa típica do mundo atual: a de servir como meio de solução de conflitos multiculturais, ou seja, de auxiliar as culturas no encontro da verdade comum do ser humano. E isso é assim porque estamos vivendo um momento da história em que as tradições estão convivendo, como foi dito, em uma mesma esfera pública concomitantemente global52 e local53. O Estado Constitucional aí assume o empenho de ajudar no encontro entre tradições culturais. O encontro nem sempre é fácil e, por vezes, pode demorar até mesmo gerações para que a paz se conquiste. Porém, o auxílio fornecido pelo Estado Constitucional nesse processo evolutivo de intercâmbio cultural está na procura que faz para ofertar um mínimo de valores comuns da pessoa humana nos países em que se faz presente. Por essa razão, enquanto Direito do Estado, a Constituição como documento jurídico-político do Estado Constitucional, aparece como mosaico de valores do humano para o atuar político do Estado. O Direito Constitucional atual, então, é o Direito dos valores, mais aberto aos requerimentos da política constitucional54, embora mais firme na defesa da pessoa humana. O caráter aberto permite um certo grau de suavidade em suas estruturas55, o que permite que a Constituição se mantenha aberta para as novidades culturais que possam ser inculturadas na realidade de um Estado. Porém, nesse mesmo aspecto, a Constituição se mostra firme no propósito de promover os valores comuns do ser humano, submetendo tais novidades ao marco avaliativo desses princípios. FRIEDRICH, Carl. Teoría y realidad de la organización constitucional democrática (en Europa y América), p. 123. FRIEDRICH aduz que o constitucionalismo implica em “uma técnica de estabelecer e manter limitações efetivas a ação política e governamental”. 51 Nesse sentido, ACKERMAN, Bruce. La política del diálogo liberal, p. 53. ACKERMAN fala do caso Alemão, em que a Lei Fundamental de Bonn serviu de marco civilizatório no período posterior ao regime nazi vigorante durante a segunda guerra. A esse respeito, diz que “o cenário do Novo começo faz uso de símbolos expressivos, não de imperativos funcionais. Sob esse cenário, uma constituição emerge como um indicador simbólico de uma grande transição na vida política de uma nação. Por exemplo, resulta impossível compreender o êxito extraordinário do Tribunal Constitucional Alemão – tanto em termos jurisprudenciais como de autoridade efetiva – sem reconhecer que a Lei Fundamental se converteu, para a sociedade em seu conjunto, em um símbolo central da ruptura da nação com seu passado nazi”. 52 TRUYOL Y SERRA, Antonio. La sociedad internacional, p. 137. 53 A Globalização é um fenômeno maior que a mera troca econômica: globalização significa a existência de uma esfera pública em que ocorre o encontro entre diferentes tradições religiosas culturais, a saber, onde é possível o choque e o diálogo entre distintas civilizações. 54 ACKERMAN, Bruce. La política del diálogo liberal, p. 99. 55 Ver ZAGREBELSKI, Gustavo. Historia y Constitución, p. 13 e seguintes. 50 35 Artigo 2 Por isso, a Constituição aparece como marco civilizatório na busca do consenso entre tradições56. Antigamente, a política do Estado Constitucional era voltada para resolver problemas do pluralismo político, ou seja, diversidade ideológica de fundo programático. Porém, o multiculturalismo é muito diferente do pluralismo57. Se o pluralismo é uma condição para a democracia política, o multiculturalismo é uma realidade correlativa a existência humana concreta e existencial na história. Empiricamente, o multiculturalismo existe desde a fundação das tradições na história do homem. Porém, em nosso tempo, esse problema aparece de modo latente com a chamada globalização. E, diferentemente do pluralismo em que o consenso se trava mediante o conflito de ideologias em uma mesma tradição e dentro de um Estado, o multiculturalismo é um problema que vai além do plano interno do Estado e do plano político ideológico do conflito plural de uma democracia. Multiculturalismo diz respeito ao choque entre tradições. O Estado Constitucional é um modo de resolver mais do que meros problemas de natureza político-ideológica. Diz respeito aos valores comuns da pessoa humana que são o próprio objeto do Estado Constitucional. Como, então, o Estado Constitucional pode auxiliar na solução do problema do multiculturalismo? Evidentemente que o Estado Constitucional não resolve problemas em escala internacional. Porém, em nível local, seu papel civilizatório é importantíssimo, pois ao promover os valores comuns do ser humano, também promove valores comuns entre tradições culturais distintas, auxiliando, assim, na tarefa de conciliar diferentes perspectivas culturais. Por isso, o Estado Constitucional é o modo de existência institucional da comunidade política contemporânea, sendo verdadeiro meio eficaz de solução dos problemas surgidos a partir da convivência comum na mesma esfera pública. A política é, ao mesmo tempo, algo correlato a natureza humana, a história concreta e ao devir de uma civilização. Em todos esses significados, a política aparece ligada ao homem e seu desenvolvimento na história, na comunidade e na plenitude de sua forma existencial. Nesse sentido, a política é a própria existência humana em sua dimensão ontológica. Por se radicar no homem e, assim, na comunidade de pessoas, a política possui o caráter civilizatório de servir como meio de solucionar conflitos58. O modo institucional encontrado na política contemporânea para tanto foi o Estado Constitucional. O modo axiológico encontrado foi o feixe de valores, comuns entre tradições, que condizem com a natureza da pessoa humana, algo comunicado entre todas as tradições, vez que todas tratam do homem em sua forma existencial. O Estado Constitucional, então, é a morfologia política atual para o cumprimento dessa tarefa: reunião de instituições e valores voltados para a plenitude da pessoa humana, seja no ambiente interno de uma tradição, ou ainda no marco do encontro entre diferentes tradições. ACKERMAN, Bruce. El futuro de la revolución liberal, p. 73. Sobre as diferenças entre pluralismo e multiculturalismo, ver SARTORI, Giovanni. Pluralismo, Multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica, p. 55. 58 FREUND, Julien. Che cos`è la política?, p. 19. 56 57 36 TRADIÇÃO E MULTICULTURALISMO: O PAPEL CIVILIZATÓRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL NO INTERCÂMBIO CULTURAL Referências ACKERMAN, Bruce. La política del diálogo liberal. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 1999. ACKERMAN, Bruce. El futuro de la revolución liberal. 1ª ed. Barcelona: Ariel, 1995. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 5ª ed. São Paulo: perspectiva, 2001. ARISTÓTELES. Política. 1ª ed. Lisboa: Vega, 1998. ARISTÓTELES. Ética Nicomáquea. 1ª ed. Madrid: gredos, 1985. CARPEAUX, Otto Maria. Ensaios Reunidos: volume I. 1ª ed. Rio de Janeiro: UniverCidade, 1999. DOS SANTOS, Mário Ferreira. Dicionário de Filosofia e Ciências culturais. 1ª ed. São Paulo: Matese, 1963. DOS SANTOS, Mário Ferreira. Filosofia concreta dos valores. 1ª ed. São Paulo: logos editora, 1960. FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. 5ª ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1964. FERRERO, Guglielmo. Poder: los genios invisibles de la ciudad. 2ª ed. Madrid: tecnos, 1998. FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights. 1ª ed. Oxford: clarendon press, 1980. FREUND, Julien. Che cos`è la política?. 1ª ed. Roma: ideazione editrice, 2001. FRIEDRICH, Carl. Tradição e Autoridade em Ciência Política. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. FRIEDRICH, Carl. Gobierno Constitucional y Democracia. 1ª ed. Madrid: Instituto de estudios políticos, 1975. FRIEDRICH, Carl. Teoría y realidad de la organización constitucional democrática (en Europa y América). 1ª ed. México: fondo de cultura, 1946. GIRARD, René. Los orígenes de la cultura. 1ª ed. Madrid: Trotta, 2006. GRASSO, Pietro Giuseppe. El problema del constitucionalismo después del Estado Moderno. 1ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005. GUÉNON, René. La crisis del mundo moderno. 1ª ed. Barcelona: paidós, 2001. HUYN, Hans Graf. Sereis como Dioses: vicios del pensamiento político y cultural del hombre de hoy. 1ª ed. Barcelona: eiunsa, 1991. KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. 1ª ed. Lisboa: calouste gulbenkian, 2004. LAVELLE, Louis. Studi sul pensiero contemporaneo. 1ª ed. Milano: Fratelli bocca, 1943. LONERGAN, Bernard. Collected Works: philosophical and theological papers. 1ª ed. Toronto: University of Toronto press, 1996. MONDIN, Batista. Os Valores Fundamentais. 1ª ed. Bauru: Edusc, 2005. PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do Direito. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. PAULO II, João. Memória e Identidade. 3ª ed. Buenos Aires: Planeta, 2005. POLO, Leonardo. La persona humana y su crecimiento. 2ª ed. Pamplona: Eunsa, 1999. RATZINGER, Joseph. Fé, Verdade, Tolerância: o cristianismo e as grandes religiões do mundo. 1ª ed. São Paulo: Instituto brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio, 2007. REALE, Giovanni. O saber dos antigos: terapia para os tempos atuais. 1ª ed. São Paulo: Loyola, 1999. SARTORI, Giovanni. Pluralismo, Multiculturalismo e estranei: saggio sulla società multietnica. 1ª ed. Milano: SuperBur, 2002. STRAUSS, Leo. ? Progreso o retorno?. 1ª ed. Barcelona: paidós, 2004. TRUYOL Y SERRA, Antonio. La sociedad internacional. 2ª ed. Madrid: Alianza editorial, 2004. VOEGELIN, Eric. A Nova Ciência da Política. 1ª ed. Brasília: UnB, 1979. 37 Artigo 2 VOEGELIN, Eric. Order and History, volume III: Plato and Aristotle. 1ª ed. London: University of Missouri press, 2000. ZAGREBELSKI, Gustavo. Historia y Constitución. 1ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2005. ZUBIRI, Xavier. El Hombre y la Verdad. 1ª ed. Madrid: Alianza editorial, 1966. 38 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE Carolina dos Anjos de Borba1 Resumo O presente trabalho intenciona analisar os processos sociais que possibilitaram a ascensão de descendentes de escravos como possuidores de terra em contextos pós-coloniais. O debate ora suscitado busca eleger como foco de reflexão as relações que produzem discursos de verdade, nos quais antigos rendeiros (Cabo Verde) e quilombolas (Brasil) não se constituem facilmente na figura de proprietários. As teorias do Estado de Exceção leem esses fenômenos de oscilação política como uma forma peculiar de resguardar a segurança pública em um paradigma arbitrário de governo. Sendo assim, serão apresentados argumentos que vislumbrem a insegurança fundiária nos dois países em um quadro complexo do referido Estado de Exceção, que mescla elementos étnicos e políticos. Neste fulcro, serão apresentados dois universos rurais: São Salvador do Mundo (Cabo Verde) e Canguçu (Brasil) - o primeiro assistiu às fortes disputas territoriais entre morgados e rendeiros, passando pelo projeto de Reforma Agrária e, atualmente, encontra-se sob a posse de pequenos agricultores; o segundo experimentou as variadas transformações históricas no que se refere à questão fundiária sulina, bem como concentrou em seu espaço territorial um grande número de trabalhadores escravos no séc. XIX. Além disso, as duas localidades oferecem materiais etnográficos densos para trabalhar a questão teórica “terra-segurança”. Palavras-Chave: Propriedade da terra. Estado de Exceção. Quilombolas, Rendeiros. Abstract This paper intends to analyze the social processes that enabled the rise of the descendants of slaves as having land in postcolonial contexts. The debate raised now seeking election as a focus for reflection relations that produce discourse of truth, in which former tenants (Cabo Verde) and maroon (Brasil) are not easily figure of the owners. Theories of the state of exception read these oscillation phenomena in politics as a peculiar form of protecting public safety in a paradigm of arbitrary government. Thus, arguments are presented that envisage tenure insecurity in both countries in a complex picture of that state of exception that ethnic and political mix. This core will be presented two rural universes: the São Salvador do Mundo (Cabo Verde) and Canguçu (Brasil) - the first attended the strong territorial disputes between heirs and tenants, through the agrarian reform project and currently is under possession of small farmers, the latter tried the various historical transformations in relation to the southern land issue, and focused on their territorial space a large number of slave laborers in the century. XIX. In addition, both locations offer dense ethnographic materials to work the theoretical question “land- security.” Keywords: Land Ownership. State of Exception. Quilombolas. Rendeiros. 1 Advogada, Mestre e Doutora em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do ul. [email protected]. S 39 Artigo 3 1 Introdução Este artigo propõe-se a debater a questão fundiária no Brasil e em Cabo Verde com base em estudo comparativo destinado a relacionar terra, segurança e raça em contextos pós-coloniais. Para tanto, escolheu-se dois universos empíricos a se espelharem mutuamente produzindo uma série de questionamentos capazes de reproblematizar questões cruciais no que tange à emergência de descendentes de escravos como proprietários de terra. Em Cabo Verde, a análise será proposta a partir do caso paradigmático do Município de São Salvador do Mundo (Picos) – Ilha de Santiago; enquanto no Brasil, optou-se por apresentar a comunidade quilombola de Maçambique -– Canguçu-RS. Diversos processos históricos provocaram modificações importantes nas relações sociais constituídas no meio rural cabo-verdiano - tais como a decadência dos morgados, a independência nacional, a reforma agrária, entre outros. É Relevante destacar as questões raciais envolvidas no que tange à propriedade da terra: a população negra, durante longo período de colonização, via-se excluída dos meios de produção, os quais eram monopolizados pelos pouco brancos que estiveram no país. Em razão desse quadro, os confrontos entre “morgados e rendeiros” foram uma constante na biografia das Ilhas, sobretudo, na Ilha de Santiago, onde a atividade agrária era mais intensa. O processo de concentração fundiária nas mãos de um pequeno grupo de proprietários sofreu alterações importantes com a Independência Nacional, ocorrida em 1975, e com a iniciativa de Reforma Agrária. Entretanto, várias questões de ordem política e social dificultaram a implementação da lei de bases que modificaram o cenário de aquisição de direitos no campo. Sendo assim, encontram-se atualmente, no município estudado, realidades distintas: agricultores antes rendeiros de portugueses que após a independência deixaram de pagar arrendamento, mas não detêm o direito de propriedade; agricultores que continuam na condição de rendeiros mesmo no presente momento, além de pequenos proprietários que capitalizaram seus esforços principalmente, por meio das emigrações. No que se refere à história agrária do Rio Grande do Sul – BR buscar-se-á enfocar o regime de apropriação da terra e sua interface com a atual vulnerabilidade das comunidades quilombolas no Estado. Tendo por objetivo entender alguns dos processos sociais que envolveram tal modelo de organização fundiária, serão investigados determinados engendramentos políticos que impediram a efetivação do direito de propriedade por parte de alguns setores sociais. Como será detalhado adiante, o mito do progresso econômico e da modernidade atingiu o ideário das elites agrárias gaúchas no século XIX. Assim sendo, elas perseguiram tal quimera sem, contudo, modificar o quadro de privilégios que lhes eram garantidos. Nesse cenário, a opção de povoamento do Estado por imigrantes europeus vem imbuída de um complexo de concepções que vislumbram tais agricultores com “agentes do progresso”. O projeto de colonização, ora citado, agravou ainda mais a situação fundiária das comunidades étnicas e dos lavradores nacionais, que por inúmeras razões, sejam por mecanismos for40 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. mais e/ou informais, viram-se excluídos do processo de regularização de suas posses. Esse quadro encontra ainda hoje reflexos na ordenação agrária do território: tanto povos indígenas quanto comunidades negras perseguem secularmente a titulação de suas terras tradicionais, sem sucesso. Importante destacar, que não se tem aqui a pretensão de esgotar as temáticas históricas, nem tão pouco fazer encadeamentos causais diretos entre passado e presente, mas apresentar algumas pistas que parecem demonstrar as tensões em torno de um perfil étnico para os “proprietários de terras”, nos dois Países. O debate ora suscitado busca eleger como foco de reflexão as relações que produzem discursos de verdade, nos quais antigos rendeiros e quilombolas não se constituem facilmente na figura de proprietários titulados. Sendo assim, serão apresentados argumentos que vislumbrem a insegurança fundiária nos universos elencados em um quadro complexo de Estado de Exceção que mescla elementos étnicos e políticos. 2 Comparando o incomparável A utilização do método comparado surge diante da possibilidade de vislumbrar modos de vida distintos de comunidades negras rurais, tanto no Brasil quanto em Cabo Verde, entretanto, identificados no que tange à necessidade de contraposições aos regimes coloniais. Já à primeira vista, percebe-se nos dois países, que passaram pelo longo regime de exploração do império português, uma série de sequelas comuns herdadas das relações desiguais impingidas por essa experiência, entre as quais a concentração fundiária e a segmentação racial. Sobrelevam-se, nesse contexto, as incompletudes dos processos de efetiva democratização do acesso a terra, esbarrando não raramente em interesses de elites consolidadas e/ou emergentes. Entretanto, importa para o presente trabalho destacar racionalidades a compor públicos que catalisam esforços e arranjos sociais em torno de estratégias de segurança fundiária. Portanto, o desafio de estabelecer elementos de comparação investe-se a partir da descrição do acontecimento “colonialidade” em contextos, ainda que diversos, mas, comuns em resistência. Observar a segurança ou insegurança na terra em Maçambique - BR e em Picos – CV pode fazer da comparação fecundo instrumento de investigação e evidenciar múltiplas ontologias de segurança fundiária. Para tanto, adotou-se no presente, a perspectiva comparativista do Centre de Recherches Comparées sur lês Sociétés Anciennes (CRCSA), especialmente formulada na obra de Marcel Detienne. Na obra “Comparar o Incomparável”, o autor tece forte crítica às formas até então utilizadas no exercício de comparação, propondo a seguir uma nova maneira de trabalho, levando em conta outras metodologias e observações: Sem dúvida, haverá sempre historiadores prontos para defenderem a tese irredutível de que só se pode comparar aquilo que é comparável. [...] Pouco importa. [...] Esqueçamos os conselhos, prodigalizados por aqueles que repetem há meio século, de que é preferível instituir a comparação entre sociedades vizinhas, limítrofes e que progrediram na mesma direção, de mão dadas, ou então entre grupos humanos que atingiram o mesmo nível de civilização e que, à primeira vista, oferecem de modo suficiente homologias para navegar com toda segurança.2 2 DETIENNE, M. Comparar o incomparável. Aparecida (SP): Ideias & Letras, 2004, p.46. 41 Artigo 3 Na proposta do autor, os comparáveis não são as temáticas, mas “os mecanismos de pensamento observáveis nas articulações entre os elementos arranjados conforme a entrada [...]”. (DETIENNE, 2004, p. 57). Desta feita, um tema deve sofrer uma “desmontagem lógica” a ponto de permitir a descoberta das microconfigurações que, ao serem comparadas, deem conta de diferenças refinadas. Descoberto um traço significativo (o território), é preciso vislumbrá-lo como parte de um conjunto de configurações, como um sistema articulado que o comparativista analisa como mecanismos de pensamento. Em cada microconfiguração há uma orientação que, em cadeia, denota algumas escolhas, em outras palavras, são as “placas de encadeamento” de escolhas “os comparáveis” nessas pesquisas. As formas de estabelecer um território demonstram a direção de um modo político de territorialização, por isso, reconstruir tais lógicas é parte de processos de montagem e desmontagem das gramáticas de escolhas feitas em cadeia. Nesse esforço, não está em questão fazer analogias de coisas assemelhadas, mas analisar microssistemas de pensamentos elaborados por sociedades que comportam complexas dinâmicas de relações e práticas sociais. Ao serem colocadas em perspectiva, as experiências de Picos e Maçambique podem produzir estranhamentos poderosos que, ao final, poderão ser revertidos no profundo conhecimento de si próprios. 3 Terras e contextos: entre picos e Maçambique... 3.1Picos... O Município de São Salvador do Mundo (Picos – Figura 2) foi escolhido em razão de ter assistido às fortes disputas territoriais entre morgados e rendeiros no período colonial: passou pela desintrusão dos absentistas na Independência Nacional; foi público do projeto de Reforma Agrária e se encontra atualmente, sob fortes tensões no que tange ao uso e à propriedade da terra. A partir desses marcos históricos, foi reconstituído o espaço de um dos morgadios mais antigos do país nessa área, cujo donatário chamava-se João de Deus Tavares Homem. Na busca de instrumentalizar as narrativas históricas das comunidades rurais pesquisadas, a investigação envolveu consultas ao Arquivo Público Nacional de Cabo Verde, ao Arquivo das extintas Comissões de Reforma Agrária, bem como ao Arquivo do Banco Nacional Ultramarino em Portugal - já que o referido proprietário posteriormente perdeu as terras para o banco. Entre as diversas formas de agenciamentos territoriais do mundo rural em Picos, elegeram-se as disputas pela terra e as narrativas de resistência como vetores de análise da feitura de um universo singular. É a partir da escolha dessas memórias que se vislumbram os processos de territorialização: [...] o território não é primeiro em relação a marca qualitativa, é a marca que faz o território. As funções num território não são primeiras, elas supõem antes uma expressividade que faz território. É bem nesse sentido que o território e as funções que nele se exercem são produtos da territorialização.3 3 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 4. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. 42 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. Para além de um espaço físico repleto de significados conferidos pelo modo de vida, o território também adquire funções capazes de constituir subjetividades e fabricar corpus. Entre as inúmeras localidades visitadas no município, em especial, as zonas de Achada Leitão e do Bur-Bur, revelaram de maneira mais expressiva tais marcas qualitativas, isto porque, mesmo a topografia montanhosa é apropriada para resistir ao esbulho de terra e ao controle do regime de morgadio. Pela reconstituição da história oral, tem-se que, parte das famílias passou a residir, em específico no Bur-Bur, como estratégia de empoderamento e autonomização. Ainda assim, os camponeses entrevistados afirmaram que foram rendeiros de João de Deus Tavares Homem e passaram por inúmeros infortúnios a fim de cumprir o pagamento das rendas ao proprietário. A figura do referido proprietário é descrita das formas mais variadas, entretanto, é comum aos depoimentos, a maneira arbitrária de apropriação das terras, bem como a rigidez na vigília dos pagamentos das rendas, mesmo em tempo de seca. A Sra. Alice Teixeira (86 anos), ao caracterizar João de Deus, relata que as cantadeiras na época lhe faziam referência nas músicas: N sabi ma el éra un proprietáriu grandi, até ki kantaderas poba el na kantiga: ‘João de Deus Tavares Homem é nhu branku riku, téra tamanhu, marka só ku Dez na seu’. Porki e ten téra na Piku li ki ninhun proprietáriu… el éra primeru proprietáriu.4 Refer������������������������������������������������������������������������������� ê������������������������������������������������������������������������������ ncias a capatazes circulando nas planta��������������������������������������� çõ������������������������������������� es, impedindo com crueldade que agricultores procedessem à colheita quando inadimplentes ou a expulsão de famílias das terras, são fatos constantemente relatados. Possivelmente, parte das terras de João de Deus tenha advindo da Capela do Pico Vermelho, entretanto, a extens��������������������������������������� ã�������������������������������������� o tomou maior volume quando, em momentos de seca, as negociações dos terrenos eram mais favoráveis - consta que se trocavam ranchos por alimentação. Ainda, durante o período colonial, o Banco Nacional Ultramarino tomou os referidos bens em razão de dívida contraída (hipoteca) e passou a vendê-los em hasta pública. Contudo, a maior porção de terras foi adquirida por duas figuras: Mário Monteiro (português) e Antônio de Barros, mantendo a tradição de concentração fundiária na Ilha de Santiago, ainda na década de 1950. Porém, os últimos adquirentes são muito pouco mencionados entre as comunidades rurais, isto porque, eram homens de vários negócios, não apenas centrados na agricultura, fazendo-se raras vezes presentes em Picos. Além do mais, João de Deus impregnava de forma intensa a imagem de um “senhor colonial”, praticamente dono de todo município. Com a Independência Nacional, os líderes revolucionários enunciaram a necessidade de modificar as relações de trabalho no campo, proibindo a exploração indireta na agricultura e conferindo títulos de posse útil aos camponeses. Em Picos, essa formalização não ocorreu, entretanto, a afirmação que após a Independência e a Reforma Agrária a terra tornara-se “do povo”, era recorrente na fala das famílias camponesas. Sendo assim, a postura epistemológica adotada Eu sei que ele era um grande proprietário, tanto que as cantadeiras colocaram-no na cantiga: ‘João de Deus Tavares Homem é senho����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� r���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� br������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ n����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� co��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� r������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ic����������������������������������������������������������������������������������������������������������� o���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,��������������������������������������������������������������������������������������������������������� te������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� rr���������������������������������������������������������������������������������������������������� a��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ta������������������������������������������������������������������������������������������������ manh�������������������������������������������������������������������������������������������� a,������������������������������������������������������������������������������������������ l���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� im�������������������������������������������������������������������������������������� it������������������������������������������������������������������������������������ e����������������������������������������������������������������������������������� s���������������������������������������������������������������������������������� s�������������������������������������������������������������������������������� ó������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ c����������������������������������������������������������������������������� o���������������������������������������������������������������������������� m��������������������������������������������������������������������������� De������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������� u����������������������������������������������������������������������� s���������������������������������������������������������������������� n�������������������������������������������������������������������� o������������������������������������������������������������������� c����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ é���������������������������������������������������������������� u’�������������������������������������������������������������� .������������������������������������������������������������� Porqu������������������������������������������������������� e������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ele�������������������������������������������������� ti����������������������������������������������� ������������������������������������������������� nh��������������������������������������������� a te����������������������������������������� rr��������������������������������������� as������������������������������������� a����������������������������������� ������������������������������������ qu��������������������������������� i�������������������������������� e������������������������������ m����������������������������� P��������������������������� ic������������������������� o������������������������ s����������������������� c��������������������� ���������������������� om������������������� o������������������ nenhu������������ m����������� propr����� ietário... ele foi o primeiro proprietário. 4 43 Artigo 3 foi no sentido de perseguir a descrição dos interlocutores fielmente, instrumentalizando seus discursos por meio de documentação dos referidos processos: “[...] se há algo que cabe de direito à antropologia, não é certamente a tarefa de explicar o mundo de outrem, mas a de multiplicar nosso mundo, ‘povoando-o’ de todos esses exprimidos que não existem fora de suas expressões.” (VIVEIRO DE CASTRO, 2002, p. 132). Seguindo a investigação, encontra-se, ainda em 1975, o novo Estado Independente decretando a desapropriação das terras dos absentistas e nacionalizando os terrenos: Decreto 06/1975. Artigo 1º Os prédios rústicos e afins já ocupados pelos cultivadores indiretos e inscritos na Conservatória dos Registros do Sotavento a favor de António de Barros, Ana Martins Carvalho, Tomás Martins de Carvalho, Artur Pereira Carvalhal, Mario Monteiro de Macedo e Sociedade Agrícola e Comercial de Santa Filomena Ldª, passam a constituir do Estado. (Grifos nossos)5. Destaca-se que esse período histórico é reconhecido no campo como o momento auge da Reforma Agrária, no qual se proporcionou um processo concreto de tomada popular. No local pesquisado havia incógnitas que persistiram por quase toda investigação: eram os titulares das propriedades rurais após a Independência Nacional? Se a proposta do Novo Estado focava em emancipar os agricultores do modelo ainda semi-escravagista, por qual motivo aqueles camponeses persistiam na terra sem qualquer tipo de documentação? Evidente está a difícil tarefa de construir novos arranjos para estruturas tradicionalmente enraizadas em relações conservadoras: havia muitos interesses em jogo e o encargo de cotejá-los ou desprezá-los levaria longo tempo. De fato, a resposta oferecida em campo não só “resolvia” o dilema, como revelava uma cosmologia potente que cumpriu a missão de solidificar transformações que, apesar de pulverizadas, sobreviveram às intempéries das mudanças políticas. Em período que antecede à Independência, havia um empregado possivelmente da família de João de Deus ou dos curadores, nomeados pelo Banco Ultramarino, que circulava pelas terras hipotecadas cobrando altos valores de renda, porém, a indignação pelos anos de exploração intensa da mão-de-obra fez com que inúmeros agricultores expulsassem o funcionário de maneira violenta. A certeza de que após a retirada dos portugueses e a chegada dos heróis nacionais resultaria na entrega das terras a quem de direito, ou seja, para “o povo”, acarretou a identificação dos antigos rendeiros de João de Deus como legítimos donatários. Todavia, a não formalização das posses e a não sedimentação de uma legislação fundiária competente às intencionadas mudanças, fomentou a situação de insegurança fundiária que foi explorada na troca de poder, na década de 1990: Decreto-Legislativo. O regime jurídico dos solos é daqueles sectores em que não se registrou alteração significativa, depois da Independência Nacional. Foram feitas intervenções legislativas em domínios como o ordenamento do território, o planeamento urbanístico, o ambiente, em geral, mas, quanto ao regime jurídico dos solos, continuam a vigorar as leis coloniais. (Grifos nossos). 5 BOLETIM OFICIAL, 1975. 44 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. Portanto, na atualidade, as terras em Picos voltaram formalmente para o domínio dos antigos propriet������������������������������������������������������������������������������� á������������������������������������������������������������������������������ rios coloniais, sendo que recentemente, seus herdeiros passaram a pleitear indenizações ao Estado. 3.2 Canguçu... O extremo Sul do Brasil não obteve muitas atenções do Império português no início da colonização, isso porque, à primeira vista, a região não oferecia atrativos mercantis para a época (tais como ouro, prata). O Sul passou a ser visto com uma região estratégica do ponto de vista militar e comercial somente no s������������������������������������������������������������������ éc���������������������������������������������������������������� ulo XVIII, por raz���������������������������������������������� õ��������������������������������������������� es geoestrat��������������������������������� é�������������������������������� gicas: “(...) era a porta de entrada natural para um poss��������������������������������������������������������������������� í�������������������������������������������������������������������� vel ataque castelhano ao Brasil” (ZARTH, 2002, p. 50). Em raz������� ã������ o desse privilegiado posicionamento geopolítico, o Sul foi palco de guerras constantes, o que tornou o exército figura marcante na ocupação agrária da província. Porém, no final do século XVIII, com a produção de charque, a região destacada para o presente trabalho apresentou um quadro de conflitos raciais intensos e mobilizador de espaços: O grande número de escravos negros e a violência com que eram tratados nas charqueadas gerava descontentamento que sempre poderia manifestar-se sob a forma de revoltas escravas. Essa era uma das grandes preocupações dos grandes charqueadores, especialmente quando circulavam notícias de que nas cercanias dos estabelecimentos organizavam-se quilombos.6 Foi nesse cenário de oposição ao regime colonial que escravos rebelados encontraram na Serra dos Tapes local de refúgio, incrustando nessas terras, um modo de vida fundado pela resistência à escravidão. Especialmente nas proximidades das antigas charqueadas, documentou-se a existência de quilombos – o Município de Canguçu, que subsidiava a cadeia de produção saladeiril, na criação de gado e plantações destinadas à alimentação, concentra até o presente, número volumoso de agrupamentos negros, conforme mapeamento realizado pelo INCRA (somente em Canguçu, tem 11 comunidades). Destaca-se a figura de Manuel Padeiro e seu bando, nominado como quilombo itinerante, em razão da estratégia de circulação pelo Dorsal do Canguçu, dificultando a captura por feitores. A revista pelotense “Princesa do Sul” documenta as constantes tentativas de banir tais grupos: Em 1835, a Câmara solicitou verba ao Presidente da Província para dar combate aos ‘Quilombolas’ perigosos escravos foragidos, que se atiravam a pratica de roubo e do crime, com esconderijo na Serra dos Tapes. A presidência da Província, pôz a disposição da Câmara, a quantia anual de 2.400$000 réis, para perseguição e extinção dos núcleos fatídicos dos ‘Quilombolas’, que frequentemente, fortificam-se com novos elementos f0ragidos e bem armados atacavam.7. Escolheu-se para o comparativo, a Comunidade Quilombola de Maçambique por possuir uma história complexa de ocupação que remonta ao período acima referenciado, evocando a BERND, Z. e BAKOS, M. M. O negro: consciência e trabalho. 2ª.ed. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1998, p. 52-53. MAESTRI Fº, M. J. O escravo no Rio Grande do Sul. A charqueada e a gênese do escravo gaúcho. Caxias do Sul: EDUCS, 1984, p. 133-134.. 6 7 45 Artigo 3 trajetória de diversos ancestrais fundadores compondo aquele território. A retórica de origem possui algumas versões distintas, sendo comum entre elas, a figura de um escravo chamado Maçambique, fugindo em direção ao Cerro do Quilombo (também situado no espaço dessa comunidade) que, ao se ver na eminência de ser capturado pediu para ser enterrado naquele lugar. A morte de Maçambique revela sua potência espiritual pelo rito de sepultamento: a seu pedido, enterrado em pé, ainda vivo, corporificando a honra de quem não cede à escravidão e à resistência ao “imponderável” - a morte, o Império. Seus companheiros cobriram o corpo com uma grande pedra que monumentaliza sua perda, ao mesmo tempo em que referencia o marco fundacional da comunidade. O jazigo, situado no alto de uma montanha, de onde se pode visualizar quase todo território, inspira sua presença protetora a velar pelos vivos. Ressalta-se que Maçambique está entre muitas outras referências de ancestrais escravizados. O Sr. Adão da Rosa (75 anos) afirma que naquela região todos tem “sangue mina”, explicitando a identidade compartilhada pelo grupo que perpassa relações entre famílias herdeiras de um mesmo processo histórico. Relatos indicam que durante o período do cativeiro e no pós-escravidão havia numerosos agrupamentos negros naquele lugar, entretanto, as ligações com a classe senhorial em pouco se modificou. Tornou-se prática dar pequenas fatias de terra de mato para as famílias “limparem” e assim encontrarem subsistência no plantio de feijão e milho. Os camponeses entregavam parte da produção ao proprietário como pagamento pelo uso da terra, e a esse modelo de “parceria”, os quilombolas denominam como “sócios”. Tem-se a conta de que, ao menos, cinco gerações trabalham sob esse regime: A gente plantava a meia e também entregava mais 10% da colheita para pagar o batedor do feijão. Certa vez, o patrão deu 2ha para plantar o consumo da família, dava uma saca e meia. Então disse pro papai que podia ficar ali sempre, que ele nunca ia nos tirar. Mas o papai ficou com medo de os filhos do patrão serem ambicioneiros e acabarem por correr com família. Então disse: não sei se seus filhos vão dar com os meus, por isso vou botar a minha velha com as crianças naquela terrinha que é minha mesmo. (ADÃO DA ROSA, 75 anos).8 A “terrinha” aludida na fala acima, diz respeito à herança recebida de “Vô Eduardo” (Eduardo Lousada), na qual o Sr. Adão vive até o presente. Outro fenômeno encontrado na região é a figura dos “filhos de criação” ou “criação”. Nesse contexto, Vô Eduardo seria um dos muitos negros adotados por famílias de fazendeiros brancos. Comumente, os filhos de criação trabalhavam como empregados suportando maus-tratos, discriminações em troca de moradia e comida, como exceção, alguns recebiam herança de terras menos valorizadas. Por ser criação de três mulheres solteiras, Vô Eduardo foi recompensado com meia quadra de campo transmitida aos seus seis filhos. Denúncias de grilagem de terras s����������������������������������������������������� ã���������������������������������������������������� o muito comuns, conta-se de uma senhora chamada Bin8 BORBA, Carolina. Diário de Campo, 2011. 46 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. ga que teria recebido como herança uma quadra de campo de sua mãe (possivelmente escrava). Entretanto, em razão das dificuldades enfrentadas na sobrevivência, seus filhos venderam partes das terras em troca de comida e, por fim, uma família de fazendeiros tomou o terreno por inteiro: Seu Adão – A Binga? Olha ela era dona daquele serro ali. Uma quadra de campo. E aí foi herança dela. E depois os Prestes foram se metendo e foram tomando conta e a herança foi ficando pros filhos, já foram entregando aí por milho, por feijão, faziam um pouco de mercadoria e aí eles foram passando a mão. Carolina – Então as terras da Dona Binga se perderam por que se trocava a terra por comida mesmo? Seu Adão – É. E aí não se lembravam de ir lá, pra pagar um imposto da terra. Muitos nem sabiam como é que se regulamentava aquilo ali. Aquele que sabia mais um pouquinho, às vezes iam lá e pegavam os papéis e passava pro nome dele.9 A baixa escolaridade facilitava verdadeiros crimes cometidos por meio de negociatas, além disso, não era costume dos antigos camponeses se preocupar em documentar a propriedade, sobretudo, por terem obtido esses espaços como recompensa do trabalho ou por doações de “pais de criação”. As gerações seguintes adquiriram pequenos terrenos com documentação, ainda assim, era comum no interior, perfazerem-se vendas de lotes com a simples entrega dos papéis referentes aos campos e, em momento posterior, requerer a mesma terra por não haver modificado a titularidade: Carolina – Naquela época não precisa assinar Seu Adão? Seu Adão – Não. E a maior parte de tudo era analfabeta, não sabiam nada. Colégio era muito pouco. Lá de longe, de longe, às vezes contratavam um que sabia mais um pouquinho pra ensinar um pouquinho assim. Carolina – Então o senhor acha que muito se perdeu assim? Seu Adão – Foi. Não tinha, agora, por exemplo, nos só assinava, mas naquela época não tinha nada disso. Mas é o negócio é assim... Por exemplo, alguém tem um campo, eu vou lá e cadastro no meu nome, um pedaço pra mim e depois eu vou lá e pago aquela taxa e tá no meu nome. Mas não é meu. Quem tem a escritura da terra vai lá e rouba a hora que quer.10 Soma-se o fato que, a Lei de Terras (1850), responsável pela organização fundiária no Brasil, era desenhada para conservar os privilégios da elite brasileira e reafirmar o poder das oligarquias regionais, sobretudo, por determinar como única forma de aquisição a compra e venda. Sendo assim, os camponeses pobres do Brasil dificilmente teriam recursos financeiros 9 BORBA, Carolina. Diário de Campo, 2011. BORBA, Carolina. Diário de campo, 2011. 10 47 Artigo 3 para compras e para o custeio da formalização do título de propriedade. (ZARTH, 2002). O referido documento legal traçou, por assim dizer, um perfil sócio racial dos possíveis proprietários legais, visto que apenas um determinado segmento social detinha os meios necessários para obter o status de proprietário e formalizar suas posses. Em razão das práticas de estelionatos para aquisição de títulos, bem como o contexto social desfavorável, atualmente, a comunidade Maçambique compõe-se de 55 famílias, dispostas em cinco núcleos fragmentados em um território descontinuo, nominalmente: Serra dos Almeidas, Serra dos Ribeiros, Serra dos Gomes, Serra dos Nunes e Rincão. Quase a totalidade dos agricultores trabalha na condição de sócio e um número bastante reduzido possui terras próprias. As populações tradicionais viram-se apartadas das possibilidades de inclusão no sistema legal: seja pela falta de recursos para a aquisição do título dominial, seja pela impossibilidade de formalizar suas ocupações. Em diferente situação, os imigrantes europeus que colonizaram o Rio Grande do Sul ao longo do século XIX, obtiveram inúmeras benesses do poder central para sua consolidação - fator que incentivou a expulsão de diversas populações tradicionais como índios, negros e caboclos de seus territórios. Nesse cenário, o fenômeno da etnicidade emergiu pela consciência de diferenciação que só surge em um contexto social comum de interações. Nesse aspecto, a etnicidade não se define como uma qualidade ligada de maneira inerente a um determinado tipo de indivíduos ou de grupos, mas, como um princípio de divisão do mundo social. (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998). Somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o conceito institucional de propriedade privada sofreu uma série de modificações tendo por objetivo a “relativização” do poder de senhorio do proprietário sobre a terra. A Carta Magna determina que a propriedade deva atender sua função social e assegura ao Estado a possibilidade de desapropriação, ressalvado o direito de prévia indenização por parte do até então proprietário. Nesse processo, distintas lideranças do movimento negro intensificaram sua mobilização para assegurar na Constituição Brasileira o direito à propriedade das terras de quilombo, gerando o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” A inserção na ordem jurídico-constitucional brasileira de um dispositivo que carrega um comando dotado de imperatividade, no sentido de reconhecer aos grupos quilombolas a propriedade definitiva de suas terras e de, ao mesmo tempo, obrigar o Estado à emissão de títulos dominiais se impõe como resultado de inúmeras pressões sociais, contrapondo-se, inexoravelmente, a interesses historicamente hegemônicos no quadro político brasileiro. Atualmente, o Decreto nº 4.887/2003 regulamenta aregularização desses territórios e assegura conquistas importantes para os camponeses, trazendo como critério de definição da identidade quilombola a autodeterminação, fato que reacendeu intensos debates sobre identidade e conformação territorial. Ocorre que, mesmo após o decurso de quase três décadas dessa disposição, tais grupos continuam sem ter a formalização de suas posses. Inúmeros fatores são evocados nesse proces48 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. so: insuficiências legais, dificuldades burocráticas e outros. Contudo, os diversos mecanismos formais de regularização fundiária parecem demonstrar que está ainda presente o ideário que nega a efetivação de direitos às minorias. 4 Cabo Verde e Brasil: políticas fundiárias de exceção? As gramáticas de apropriação da terra ora apresentadas corroboram as teses de Agamben (2004) sobres Estado de Exceção, quando o autor analisa as relações de poder estabelecidas com o ordenamento jurídico. Examinando as experiências constitucionais de diversos países europeus, ele elabora o conceito de que as democracias modernas, embora anunciem seus alicerces na legalidade e na constitucionalidade, possuem uma estrutura de poder ligada às Exceções: O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do Estado de Exceção. , de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntaria de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das praticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos.11 O Estado de Exceção, não trata, portanto, de uma forma de direito especial, mas, por ser capaz de suspender a própria ordem jurídica, aparece como um paradigma constitutivo, ou seja, uma lógica de poder. Como característica essencial do Governo de Exceção tem-se a supressão provisória da tripartição das funções públicas de Estado, (Legislativo, Executivo, Judiciário), onde as leis de plenos poderes são imputadas aos sujeitos rompendo o delicado sistema constitucional. Assim, é de se ����������������������������������������������������������������������������������� esperar que essas pr��������������������������������������������������������������� á�������������������������������������������������������������� ticas convertam-se em tend������������������������������������ ê����������������������������������� ncias duradouras de governo. A fragilidade dos parlamentos modernos é percebida em muitos países, em especial no Brasil, onde o Congresso Nacional quase que rotineiramente limita-se a ratificar disposições exaradas pelo Executivo em forma de medidas provisórias, decretos autônomos e outros atos administrativos compostos. No período da Constituinte (1987), o Brasil não contou com uma Assembleia Nacional exclusiva, ou seja, o Congresso Nacional possuía poderes constituintes e, concomitantemente, encarregava-se da feitura das leis ordinárias. À época, os diversos movimentos sociais puderam apresentar propostas aos congressistas, tornando-se ineg�������������������������������������� á������������������������������������� vel que as pressões populares acabassem por influenciar a ampliação dos direitos sociais e culturais hoje em vigor. Nesse contexto, foi possível garantir no texto normativo a regularização das terras quilombolas. Se, por um lado, em 1988, o Brasil teve a oportunidade de pensar como uma nação multiétnica, multicultural (BRUSTOLIN, 2009 ), por outro, a sequência da efetivação desse direito frustrou tais expectativas. Nos anos subsequentes, os direitos fundi��������������������������������������������������� á�������������������������������������������������� rios dessas comunidades foram regulamentados timi11 AGAMBEN, G. Estado de Exceção. São Paulo: Bomtempo Editorial, 2004, p.13. 49 Artigo 3 damente por Decretos e Instruções Normativas, que frequentemente restringem sua efetivação. De outra feita, se o período de Independ����������������������������������������������� ê���������������������������������������������� ncia Nacional em Cabo Verde inaugurou a inversão das relações de propriedade da terra no meio rural, a troca nos poderes políticos na década de 1990 promoveu um golpe na ordem legal que lançou a população em condição vulnerável. As teorias do Estado de Exceção leem esses fenômenos de oscilação pol�������������������������� í������������������������� tica como uma forma peculiar de resguardar a segurança pública sob um paradigma arbitrário de governo. Os critérios de necessidade e temporariedade, apontados pelas constituições modernas como requisitos à exceção, são progressivamente substituídos pela generalização desse modelo de segurança, atuando como fonte originária de enunciação. Por tais razões, as teorias de Agamben (2004) parecem explicativas dos casos analisados, visto que um fato particular (tentativa de descendentes de escravos regularizarem suas terras) escapa à obrigação da observância da Lei nos dois Países, tendo por fundamento a segurança da própria ordem legal: Isso significa que, para aplicar uma norma, é necessário, em última analise, suspender sua aplicação, produzir uma exceção. Em todos os casos, o Estado de Exceção. marca um patamar onde lógica e praxis se indeterminam e onde uma pura violência sem logos pretende realizar um enunciado sem nenhuma referência real.12 Utilizando esse referencial, seria possível pensar a regularização das terras quilombolas como exceção ao contexto de segurança nacional. O Direito brasileiro, até 1988, sequer previa formas de titularização coletiva, sendo complexo operar a nova figura jurídica no sistema consolidado. Por�������������������������������������������������������������������������������� é������������������������������������������������������������������������������� m, no esforço de criar uma exceção para que a ordem jurídica n����������������� ã���������������� o “corresse riscos” e ao mesmo tempo, regulamentar os territórios étnicos, remete-se o caso quilombola para uma esfera de ação extrajurídica: “[...] o Estado de Exceção é um espaço anômico onde o que está em jogo é uma força-de-lei sem lei”. (AGAMBEN, 2004, p. 61). Isso é, para garantir um ordenamento jurídico seguro, os territórios quilombolas são transportados para uma esfera de insegurança e, nesse espaço de lei sem lei, o que está presente é o exercício direto do poder. 5 Considerações finais Conforme se procurou elucidar, os diversos processos históricos analisados nos locais de pesquisa, seja em Cabo Verde ou no Brasil, tornaram antigos rendeiros e quilombolas distantes da figura de proprietários. A adesão ao sistema legal que elenca a necessidade do título formal da terra, desloca tais populações, tradicionalmente encarnadas em modelos sociais de forte adesão ao costume de apropriação pela posse, em vulnerável contingência diante de experts no manejo documental. Sobretudo, pela tênue condição democrática de ambas as realidades que em momentos críticos de embates políticos por conquistas sociais veem o ordenamento jurídico postularmente dado ser suspendido em atenção de interesses secularmente privilegiados. 12 AGAMBEN, 2004, p. 63. 50 QUESTÃO FUNDIÁRIA: POSSE TRADICIONAL E PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA, ENTRE BRASIL E CABO VERDE. Todavia, mais interessante que mapear as realizações do período de Independência e reforma Agrária em Cabo Verde, posteriormente abandonadas pelo Estado, ou vislumbrar as possíveis modificações implementadas pelas leis que protegem ocupações quilombolas noBrasil, parece se analisar o que as populações produzem a título desses eventos. Sendo assim, mesmo os esforços de “liberalizar” os espaços cabo-verdianos após 1990, de certa forma, rendem-se à imposição dos Territórios de Resistência. O empoderamento camponês depois de julho de 1975 impede que se revertam as relações ao ponto que antes estavam, em que pese formalmente os terrenos, em sua maioria, encontrem-se ainda em nome de Antônio de Barros e Mario Monteiro. De outra feita, o movimento quilombola brasileiro assume certa consolidação política que promove a eclosão de posturas cidadãs onde a tomada de direitos se torna uma crescente. Sendo assim, as afirmações persistentes “a terra é do povo”; “isso é terra de quilombo” e o modo de vislumbrar os lugares de pertencimento tornam a sobrecodificação legal frágil mediante a experiência territorial. Referências AGAMBEN, G. Estado de Exceção. São Paulo: Bomtempo editorial, 2004. BRUSTOLIN, C. Reconhecimento e desconsideração: a regularização fundiária dos territórios quilombolas sob suspeita. Tese de Doutorado (Sociologia, UFRGS), 2009 BERND, Z. e BAKOS, M. M. O negro: consciência e trabalho. 2ª.ed. Porto Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 1998. BOLETIM Oficial da República de Cabo Verde. 23 de jul. 1975. Decreto-Lei nº 6/75, Artigo 1º. BOLETIM Oficial da República de Cabo Verde. 19 de jul.de 2007. Decreto-Lei nº 2/2007. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. v. 4, Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. DETIENNE, M. Comparar o incomparável. Aparecida (SP): Ideias & Letras, 2004. MAESTRI Fº, M. J. O escravo no Rio Grande do Sul. A charqueada e a gênese do escravo gaúcho. Caxias do Sul: EDUCS, 1984. POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da etnicidade: seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: UNESP, 1998. ZARTH, P. A. Do arcaico ao moderno: o Rio Grande do Sul agrário do século XIX. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2002. 51 Artigo 4 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOAFÉ OBJETIVA Carolina Fátima de Souza Alves1 Antonio Carlos Efing2 Resumo Os contratos, pactos ou convenções têm diversas raízes etimológicas. No Direito Romano havia o “pacto” e o “contractus”. Através dos “pacta”, o vínculo criava apenas obrigações naturais. As obrigações jurídicas decorriam do “contractus”. Assim também o é no sistema jurídico atual: há convenções e pactos que não geram obrigações jurídicas. Estas decorrem dos contratos, que são vínculos que merecem proteção jurídica, por sua importância social e por estarem atendidos os requisitos legais que lhe conferem validade. Na acepção clássica vigente até o século XIX, a relação contratual se amparava no tripé autonomia da vontade, obrigatoriedade e relativização dos efeitos contratuais. Entretanto, as transformações sociais advindas no pós Revolução Francesa, especialmente a industrialização, demonstraram que o contrato, desta forma compreendido, servia como instrumento de afirmação da classe mais abastada, fomentando a desigualdade entre os contratantes, não mais se adaptando a realidade socioeconômica do século XX. Foi diante desse quadro que se deu a travessia do Estado Liberal para o Estado Social, deixando o Estado sua posição absenteísta para atuar positivamente sobre os contratos celebrados, visando assegurar o predomínio dos interesses sociais sobre os individuais, fomentando a criação de novos princípios contratuais, dentre eles o da boa-fé objetiva e da função social do contrato, hoje, indispensáveis na leitura e compreensão de toda relação contratual. O objetivo do presente artigo, mediante utilização do método positivista dedutivo, será demonstrar as alterações sofridas na acepção jurídica do contrato, mormente a criação dos princípios da boa-fé objetiva e função social, fulcrando-se ao final, no estudo de seu emprego nas relações consumeristas. Palavras-chave: Contrato; Alterações; Boa-fé Objetiva; Função Social Abstract The contracts, pacts or conventions have several etymological roots. In the Roman Right there were the “pact” and the “contractus.” Through the “pacta”, the bond just created natural obligations. The juridical obligations elapsed of the “contratus.” Likewise it is it in the current juridical system: there are conventions and pacts not to generate juridical obligations. These elapse of the contracts, that are bonds that deserve juridical protection, for his social importance and for they be assisted the legal requirements that check him/her validity. In the effective classic meaning until the century XIX, the contractual relationship if it aided in the tripod autonomy of the will, compulsory nature of the contractual effects. However, the transformations social comes from the powders French Revolution, especially (Autora) Professora do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Curitiba/PR. (Co-autor) Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, Professor Titular de Direito do Consumidor e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. 1 2 52 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA the industrialization, they demonstrated that the contract, this way understood, it served as instrument of statement of the wealthiest class, fomenting the inequality among the contracting parties, no more adapting the socioeconomic reality of the century XX. It was before of that picture that felt the crossing of the Liberal State for the Social State, leaving his State position absentee to act positively on the celebrated contracts, seeking to assure the prevalence of the social interests on the individual ones, fomenting the creation of new contractual beginnings, among them the one of the good-faith aims at and of the social function of the contract, today, indispensable in the reading and understanding of all contractual relationship.The objective of the present article, by use of the method deductive positivist, will be to demonstrate the suffered alterations in the juridical meaning of the contract, especially the creation of the beginnings of the good-faith aims at and social function in the study of his job in the relationships. Keywords: Agreements; Alterations; Good-faith Aims; Social function 1Introdução Reflexo da passagem do Estado Liberal para o Estado Social, o contrato ganha nova dimensão social, o que requer seja analisado de acordo com os novos princípios que lhe dão conteúdo. Como se sabe, como outros institutos jurídicos, o contrato também foi utilizado, até o século XIX, como instrumento de afirmação econômica da classe burguesa. Na época, com esteio no tripé que amparava a base contratual – autonomia da vontade, obrigatoriedade e relativização dos efeitos contratuais – a classe burguesa utilizava-se do contrato para se auto-favorecer. Enzo Roppo3 anota que “esta ideologia novecentista da liberdade de contratar corresponde, sem dúvida, as orientações e valores positivos, de progresso, afirmados na evolução das sociedades ocidentais, tornando-se, inclusive, sua promotora direta. Contudo, de outro lado, configura de facto, um instrumento funcionalizado para operar do modo de produção capitalista, e neste sentido, realiza institucionalmente o interesse da classe capitalista (que é justamente interesse particular de uma classe, e não interesse geral de toda a sociedade, ainda que as ideologias do capitalismo tentem, interessadamente, fazer crer a sua coincidência”. Na concepção clássica do contrato, a tutela jurídica limitava-se a proteger a vontade criadora e a assegurar a realização dos efeitos desejados pelos contraentes, desconsiderando-se por completo a situação econômica e social dos contraentes. Contudo, esse modelo contratual não tardou a revelar a desigualdade real que escondia. Comaindustrializaçãoeamassificaçãodasrelaçõescontratuais, especialmente através da conclusão de contratos de adesão, ficou evidenciado que o conceito clássico de contrato não mais se adaptava à realidade socioeconômica do século XX. Em muitos casos, o acordo de vontades era mais aparente do que real; os contratos pré-redigidos tornaram-se a regra e deixavam clara a desigualdade entre os contratantes – um, autor efetivo de clásulas, outro, simples aderente –, desmentindo a idéia de que, assegurando-se a liberdade contratual, estaria assegurada a justiça contratual. No dizer de Claudia Lima 31 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra: Almedina, 1988. p. 36. 53 Artigo 4 Marques4, ”a crise na teoria conceitual do direito contratual5 era inconteste”. 2 A nova concepção social do contrato – massificação das relações contratuais Foi diante desse quadro que se deu a travessia do Estado Liberal para o Estado Social, deixando o Estado a sua posição absenteísta de lado para atuar positivamente sobre os pactos celebrados, visando assegurar o predomínio dos interesses sociais sobre os individuais. Paulo Nalin6 leciona que o “caos” do conceito de contrato surge na pós- modernidade, momento no qual “a desconstrução dos dogmas se apresenta como inevitável” e o repensar “do modelo contratual, ou o reconhecimento de sua crise institucional, surgem em razão do desajuste entre o modelo contratual e as relações de massa” eis que “as relações plúrimas, coletivas, difusas ou mesmo massificadas não se encaixam nos moldes das codificações modernas”. De acordo com a nova concepção de contrato – na sua vertente social – não só o momento da manifestação da vontade (consenso) importa mas, outrossim, e principalmente, os efeitos do contrato na sociedade deverão ser considerados. Conceitos tradicionais como autonomia da vontade7 e obrigatoriedade do pacto serão relativizados ante a intervenção, cada vez maior, do Estado, nas relações contratuais, no intuito de mitigar o antigo dogma da autonomia da vontade privada face às novas preocupações de ordem social. “É o contrato, como instrumento à disposição dos indivíduos na sociedade de consumo, mas, agora, limitado e eficazmente regulado para que alcance sua função social”8. Darcy Bessone9 comenta que “se passou a exigir do Estado um diverso papel no campo jurídico – que fosse não apenas de proteção do direito, inclusive por meio da repressão a sua violação (Estado garantidor), mas sim e também contemplativo de uma função positiva, de promoção de objetivos determinados (Estado dirigista) –, novos valores ganharam relevo na esfera dos contratos particularmente mercê do fenômeno do dirigismo contratual, em que o Estado intervém, por meio do legislador e do juiz, para assegurar o predomínio dos interesses sociais sobre os individuais”. Assim, nas palavras de Antonio Junqueira10 “impõe ao Estado e ao jurista, a proibição de ver o contrato como um átomo, algo que somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais”. Pelo contrário, a nova concepção do contrato é uma concepção social deste instrumento jurídico, para a qual não só o momento da manifestação da vontade (consenso) importa, como 4 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra: Almedina, 1988. p. 36. 5 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. o novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006, p.163. Que para muitos estudiosos, ficou conhecida como Crise do Dogma da Autonomia da Vontade. 3 6 NALIN, Paulo. Do Contrato: conceito pós-moderno. Em busca de sua formulação na perspectiva civilconstitucional. 1.ª ed., Curitiba: Juruá, 2001, p.113/115. 7 Ou “autonomia privada” 8 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 211. 9 BESSONE, Darcy. Do Contrato: teoria geral. 3.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 44 10 8 JUNQUEIRA, Antonio de Azevedo. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação domercado – Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento – Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 750, p.116, abr. 1998. 54 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA também e principalmente os efeitos do contrato na sociedade serão considerados e onde a condição social e econômica das pessoas nele envolvidas ganha importância. Segundo Cláudia Lima Marques11 “hoje o contrato é o instrumento das riquezas da sociedade, é também um instrumento de proteção dos direitos fundamentais, realização dos paradigmas de qualidade, de segurança, de adequação dos serviços e produtos no mercado”. Assim, o contrato deixa de ser somente a auto-regulamentação dos interesses privados das partes para, também, preencher função social, bem como ser regido pela boa-fé objetiva, destinando-se o presente trabalho a analisar, mais enfaticamente, os novos princípios norteadores do contrato. 3 Os novos princípios contratuais Segundo a visão clássica, três eram os pilares fundantes da doutrina contratual: a) princípio da autonomia da vontade de contratar; b) princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) e c) princípio da relatividade dos efeitos contratuais. De acordo com a teoria contratual clássica e, segundo Humberto Theodoro Junior “a idéia tradicional de contrato vê na vontade dos contratantes a força criadora da relação jurídica obrigacional, de sorte que nesse terreno prevalece como sistema geral a liberdade de contratar, como expressão daquilo que se convencionou chamar de ‘autonomia da vontade’”. Diante da evolução histórica e legal já comentada, apercebeu-se que a autonomia da vontade ou liberdade de contratar não mais poderia ser o elemento central do pacto, tampouco compreendida de modo absoluto e ilimitado. Isto porque vezes há em que o contratante não tem a opção de contratar ou com quem contratar, casos dos serviços prestados em caráter de monopólio, como o fornecimento de água e energia elétrica. De outro verte, por um longo tempo entendeu-se que os pactos deveriam ser religiosamente respeitados, pois refletiam um ato de liberdade individual, o que se convencionou chamar de princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Contudo, já no século XX, com a expansão do capitalismo e diante da adoção de conceitos como “ordem pública” e “fim social”, ou seja, com o fortalecimento do princípio da Justiça Social, o pacta sunt servanda também foi relativizado, inclusive com a criação das Teorias da Onerosidade Excessiva12 e da Imprevisão13, visando superar eventual desigualdade ou fatos imprevisíveis que tornassem o pacto celebrado extremamente oneroso a uma parte contratante. Urge notar que a mitigação da força obrigatória dos pactos também deveu- se a maciça inMARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 180. 12 A Teoria da Onerosidade Excessiva defende que a excessiva onerosidade imposta a uma das partes contraentes não pode sobrepor aos objetivos almejados no momento da contratação. Na maioria das vezes, as partes contratantes tem como fator decisivo para a formação do vínculo contratual, a equivalência e equilíbrio das obrigações ou prestações assumidas. 13 Teoria invocada quando a onerosidade excessiva decorrente de fatos extraordinários, cuja consequência náo se poderia prever na celebração do contrato, repercute em efeitos supervenientes, imprevistos e não correspondentes aos interesses iniciais das partes. 11 55 Artigo 4 tervenção do Estado, de forma política e econômica, nos contratos celebrados entre particulares, no intuito de acautelar objetivos sociais eventualmente atingidos por referidos pactos. De idêntica forma, não mais vinga a noção de que o contrato celebrado produz efeitos somente entre as partes contratantes – conceito apregoado pelo princípio da relativização dos efeitos contratuais – mas, outrossim, por vezes, produz efeitos difusos e coletivos, mormente diante da adoção do princípio da função social do contrato. Embora relativizados tais princípios ainda subsistem; porém, consoante lição de Antonio Junqueira de Azevedo14, há que se acrescentar a estes novos princípios norteadores do contrato: 1) função social do contrato; 2) boa-fé objetiva e 3) equilíbrio econômico do contrato. Inserções cuja análise compreende o estudo do tema ora em comento. 3.1 Da função social do contrato 3.1.1 Noções introdutórias Além de figurar como novo pilar do novel direito contratual, a função social do contrato figura também como princípio estruturante da ordem econômica previsto no artigo 170 da Constituição da República, traduzindo-se o contrato em verdadeiro instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana constante no artigo 1.º, inciso III, da Carta Magna. Antes de adentrar na análise da função social do contrato, urge salientar que, hodiernamente, a função social do contrato tem sido vista muito além de simplescláusula geral normativa (normal legal impositiva) mas, outrossim, como verdadeiro princípio jurídico que embasa não somente a ordem econômica da República como, também, os objetivos constitucionais, dentre eles, o respeito e a valorização da pessoa humana, objetos da moderna relação contratual. Celso Antonio Bandeira de Mello15 conceitua princípio como sendo “por definição, mandamento nuclear do sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Conclui renomado jurista que “violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer”. Portanto, a violação de referido princípio contratual é muito mais gravosa do que o desrespeito à norma legal posta. 3.1.2 Conceituação de função social do contrato Mas o que é função social do contrato? Sem olvidar a respeito da flexibilização do conceito de “contrato”, urge salientar que emJUNQUEIRA, Antonio de Azevedo. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado – Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento – Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 750, p.115, abr. 1998. 15 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 747-48. 14 56 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA bora o Código de Defesa do Consumidor não preveja, expressamente, a função social do contrato em seu texto, é ponto pacífico que tal princípio também aplicar-se-á às relações de consumo. Aliás, segundo entendimento de Antonio Carlos Efing16, em verdade, o Código de Defesa do Consumidor foi criado com o intuito de efetivar a função social do contrato, conferindo maior proteção jurídica à parte mais débil da relação contratual. De acordo com os ensinamentos de Antonio Carlos Efing, qualquer ato que ofenda o preceito contido no artigo 3.º da Constituição Federal da República17 fere frontalmente a função social que todo contrato deve possuir. De outro verte, atendendo a anseios sociais previstos em seara constitucional, o artigo 421 Código Civil de 2002, prevê expressamente a função social do contrato nas relações civis, inclusive como limitador da autonomia privada, verbis: Art. 421 – A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato Feita tal ressalva, importa salientar que, considerando a vagueza da expressão legal “função social do contrato”, a conceituação desta não é matéria das mais simples. Consoante assevera Claudio Luiz Bueno de Godoy18, indicando a lição de Fábio KonderComparato19, “em rigor, quando se fala em função tem-se, em geral, a noção de um poder de dar destino determinado a um objeto ou a uma relação jurídica, de vinculá-los a certos objetivos; o que, acrescido do adjetivo “social”, significa dizer que esse objetivo ultrapassa o interesse do titular do direito – que, assim, passa a ter um poder-dever – para revelar-se como de interesse coletivo”. Neste sentido, a função social do contrato significa a funcionalização dos direitos subjetivos detidos pelos particulares que, de acordo com a nova hermenêutica e formação contratual, devem ceder ou harmonizar-se com os interesses sociais constitucionais embasadores da República Federativa do Brasil. Noutras palavras, da redação do texto legal supratranscrito, dessume-se que qualquer direito ou prerrogativa detido pela parte deve harmonizar-se a um fim social. Donde se pode constatar que o princípio da função social do contrato esta intimamente ligado ao princípio da autonomia privada, sendo aquele limitador deste. Isto porque o contrato deve atender ou, ao menos, harmonizar-se com as exigências sociais, e não somente servir como instrumento de entabulação de negócios egoísticos visando o atendimento exclusivo da vontade das partes contratantes. Expresso em sala de aula por ocasião do Seminário e Debates sobre o artigo ora apresentado. “Art. 3.º – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; – garantir o desenvolvimento nacional; – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 18 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função Social do Contrato. Os novos princípios contratuais. 1.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004 – (Coleção Prof. Agostinho Alvim, Coordenação Renan Lotufo), p. 111. 19 COMPARATO, Fabio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 63, p. 71-9, jul/set. 1986. 16 17 57 Artigo 4 Neste sentido, o princípio da liberdade contratual e autonomia da vontade passa a ser limitado pela crescente intervenção estatal na economia, visando assegurar a função social de todo e qualquer pacto celebrado. Portanto, no afã de conferir maior igualdade material inter pars, o Estado poderá (deverá) intervir para equilibrar o poder das partes contratantes, por meio de normas imperativas; limitando a autonomia privada, protegendo o lado mais fraco da relação jurídica patrimonial. É o que se verifica, por exemplo, nos contratos de consumo e locação, dentre outros. Há que se concluir, portanto, que a função social do contrato importa na relativização dos direitos subjetivos visando sua integração ao sistema social; ou, na lição de Ruben Stigliz20“significa conceber e proteger direitos subjetivos contratuais somente enquanto instrumentos úteis a serviço do desenvolvimento social”. Assim, no hodierno direito contratual brasileiro, a função social do contrato significa que sua composição clássica – com origens individualistas e voluntaristas – deverácederlugaraumnovomodelodeajuste, voltadoapreservarosvaloreseprincípios constitucionais de dignidade, solidarismo e livre desenvolvimento da pessoa humana, nos exatos termos do artigo 1.º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Aliás, convém dizer que foi neste sentido a promulgação do novo Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10 406, de 10/01/2002) que, segundo Miguel Reale21, fulcrado no princípio da socialidade ou socialização, buscou através de diversas previsões legais, mormente a contida no seu artigo 421, exterminar o modelo individualista de contrato apregoado pelo Código Civil de 1916, modificando seu eixo interpretativo, de modo a garantir que o contrato celebrado seja recebido pelo ordenamento desde que cumpra nova função atinente à proteção do interesse comum. Através de referida legislação, previu-se, então, a mitigação do princípio da relatividade dos efeitos do contrato frente aos valores constitucionais básicos. Ou seja, hodiernamente, face a sua função social, o contrato encontra-se voltado ao prestígio e respeito de valores primários eleitos pela Constituição, redundando na constitucionalização do direito civil. Segundo Maria Helena Diniz22, a consequência da criação do artigo 421 do novo Código Civil redunda no fato de que “a liberdade de contratar não é absoluta, pois está limitada não só pela supremacia da ordem pública, que veda convenção que lhe seja contrária e aos bons costumes, de forma que a vontade dos contratantes está subordinada ao interesse coletivo, mas também pela função social do contrato, que o condiciona ao atendimento do bem comum e dos fins sociais. A função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil constitui cláusula geral que impõe a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros; reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas e não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance deste princípio, STIGLITZ, Ruben. Autonomia de la coluntad y revision del contrato. Contractos: teoria general. Buenos Aires: epalma, 1993. v. 2, p. 275. 21 REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Cidadania e Justiça. Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros. v. 5, n.º10, p. 61-73, 1.º semestre/ 2001. 22 DINIZ, Maria Helena. Jornada de direito civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, setembro/ 2002. 20 D 58 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”. Portanto, a função social do contrato – vista como cláusula geral ou princípio – é decorrência lógica do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (CF, art. 3.º, I) e significa que não mais se pode conceber o contrato apenas do ponto de vista econômico: é imprescindível verificar se o contrato celebrado cumpre sua função social para, somente então, ser eficaz. 3.2 Boa-fé objetiva 3.2.1 Noções introdutórias Inserida no conceito de função social do contrato23 e como novo paradigma, encontra-se a boa-fé, componente indispensável de todo e qualquer pacto celebrado. Como novo paradigma nas relações contratuais, a moderna teoria do direito contratual propõe o renascimento de um princípio geral de direito: o princípio da boa- fé objetiva, aplicável obrigatoriamente a todos os contratos. Previamente à explanação sobre o conceito de referido princípio, urge salientar a flagrante distinção existente entre boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva, esta última positivada no Código de Defesa do Consumidor e na legislação civil vigente. Nas palavras de Claudio Luiz de Bueno Godoy24 “diferente da boa-fé subjetiva, que é um estado psicológico, um estado anímico de ignorância da antijuridicidade ou do potencial ofensivo de determinada situação jurídica, a boa-fé objetiva é uma regra de conduta, uma regra de comportamento leal que se espera dos indívíduos, portanto, que com aquela não se confunde”. Assim, enquanto a boa-fé subjetiva implica em estado de espírito ou ânimo interno da pessoa, a boa-fé objetiva, no campo contratual, significa um padrão de conduta leal que deve ser respeitado pelos contratantes, eis que legitimado pelo Direito. A boa-fé objetiva funciona, então, como um modelo, um standard, que não depende de forma alguma da verificação da má-fé subjetiva do fornecedor ou do consumidor. Feita tal distinção, mister salientar que o novo paradigma da teoria contratual é o respeito ao princípio da boa-fé objetiva que, inclusive, contra-se positivada no artigo 422 do Código Civil vigente, bem como no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, inciso IV – como cláusula geral impositiva de deveres contratuais às partes contratantes –, e no artigo 4.º, inciso III – como regra de hermenêutica contratual. Nas palavras de Waldírio Bulgarelli “a função social do contrato e a boa-fé objetiva são como salvaguardas das injunções do jogo do poder negocial”. 24 GODOY, Claudio Luiz Bueno De. Função Social do Contrato. Os novos princípios contratuais. 1.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004 – (Coleção Prof. Agostinho Alvim, Coordenação Renan Lotufo), p. 89. 23 59 Artigo 4 3.2.2 Boa-fé objetiva vista como dever de conduta (Cláusula geral) O artigo 422 do Código Civil vigente determina expressamente que: Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Previsão similar contida nos artigos 4.º, inciso III e 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: Art. 4.° – A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade. Como boa-fé objetiva, prevista no Código Civil bem como no Código de Defesa do Consumidor, compreende-se a cooperação e respeito, a conduta esperada e leal das partes contratantes, tutelada em todas as relações contratuais. É a exigência de comportamento leal dos contratantes. Cláudia Lima Marques25 conceitua boa-fé objetiva como sendo “uma atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes”. Segundo o doutrinador italiano Betti26 boa-fé objetiva “é o compromisso expresso ou implícito de fidelidade e cooperação nas relações contratuais, é uma visão mais ampla, menos textual do vínculo, é a concepção leal do vínculo, das expectativas que desperta (confiança)”. A imposição, pela hodierna teoria contratual, do princípio de boa-fé objetiva na formação e execução dos contratos obteve como resultado imediato a modificação do modo de visualizar a relação contratual. MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, p. 216. 26 BETTI. Teoria general de las obligaciones. T. I, p. 84. 25 60 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA Antes vista como uma relação estática, o contrato passa a ser visto como uma relação dinâmica que “nasce, vive e morre”, vinculando por tempo pré-determinado as partes contratantes. Por intermédio desta visão dinâmica do contrato passou-se a enxergar que o contrato não envolve somente a obrigação de prestar nos termos pactuados mas, envolve também, uma obrigação de conduta das partes contratantes! Assim, a relação contratual nada mais é do que um contrato social, que vincula pessoas que, necessariamente, deverão respeitar deveres gerais de conduta apregoados pela boa-fé e pelo direito. Desta forma, a relação contratual impõe aos contratantes deveres de agir conforme boa-fé e os constumes, servindo o contrato para reforçar tais deveres e tal vínculo! Isto porque liberar os contratantes do cumprimento de seus deveres de conduta implicaria em legitimar a má-fé na celebração e execução do contrato, com o que não se coaduna a atual teoria contratual, tampouco o ordenamento jurídico vigente. Como exemplo, no particular, destaca-se o dever de informar previsto no artigo 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, por intermédio do qual incumbe ao fornecedor, já nas tratativas contratuais27, informar ao potencial consumidor sobre os riscos do serviço a ser executado ou sobre a forma de utilização do produto, pena de inadimplemento contratual. De fato, o vínculo contratual não vige somente da celebração ao cumprimento do contrato mas, outrossim, como observa Carlyle Popp28 a boa-fé objetiva como novo princípio contratual importa “no surgimento de deveres de conduta, desde antes da celebração do contrato, em que se desenvolvem as negociações contratuais, mas regidas pelos princípios do contrato, mesmo em termos de responsabilidade, de resto como sucede, na lembrança do autor, com a oferta e publicidade, e o que se estende à fase posterior ao ajuste”. Assim, consoante leciona Claudia Lima Marques29“a relação contratual obriga não somente ao cumprimento da obrigação principal (prestação), mas também ao cumprimento de várias obrigações acessórias ou dos deveres anexos ao contrato, como a boa-fé objetiva”. Portanto, expandiu-se a boa-fé objetiva como uma exigência de “eticização das relações jurídicas”30, a ponto de elastecer sua abrangência a outras áreas do direito privado – que não somente a contratual – bem como ao direito público. Mas não somente nesta fase, como também na fase pós-contratual, incumbe ao fornecedor informar ao consumidor sobre riscos do serviço ou produto (bem) adquirido, no que se convencionou chamar recall. Segundo Antonio Junqueira de Azevedo, em Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 775, p. 13, maio de 2000: “Obrigação há, como imperativo da boa-fé contratual, da lealdade dos contratantes, mesmo já findo o ajuste”. 28 POPP, Carlyle. Responsabilidade civil pré-negocial: rompimento das tratativas. Curitiba: Ed. Juruá, 2001, p. 149. 29 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 220. 30 Transcrevendo frase de Adolfo di Majo. Obbligazioni in genere. Bologna: Zanichelli, 1985, p. 312. 27 61 Artigo 4 3.2.3 Boa-fé objetiva e suas funções: principiológica e interpretadora Das funções outorgadas ao princípio da boa-fé objetiva, a mais utilizada é a função interpretadora prevista expressamente no artigo 47 do CDC, que prevê: Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Rizzato Nunes3129 salienta que a função da boa-fé objetiva não se limita exclusivamente a proteger a parte mais fraca da relação contratual: também possui como basilar função “orientar a interpretação garantidora da ordem econômica, em harmonia com os princípios constitucionais do art. 170, sua razão de ser”. Assim, ao contrário do Código Civil de 1916, que no seu artigo 85 previa que nas declarações de vontade devia-se atentar mais à intenção do declarante do que ao sentido literal das palavras, o Código Civil vigente (2002), no seu artigo 113, a exemplo do que prevê o Código Civil Alemão, determinou que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Isto significa dizer que o contrato, de acordo com a boa-fé objetiva, deve ser interpretado de forma a preservar a confiança e a justa expectativa dos contratantes ou, nas palavras de Claudio Luiz de Bueno Godoy32 “as cláusulas contratuais devem ser entendidas de acordo com seu sentido objetivo e aparente, interpretando-se-as sempre em função de um significado que o standard de conduta leal aponte ser o mais razoável, ou seja, as declarações de vontade, no contrato, devem ser interpretadas de acordo com o que seria o razoavelmente esperado de um contratante leal”. Portanto, a boa-fé objetiva utilizada como regra hermenêutica possibilita ao julgador interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir vícios da relação contratual. Assim, além do princípio da boa-fé objetiva impôr deveres de conduta às partes contratantes, tanto na fase de tratativas, quanto na fase pós-contratual, exigindo-lhes atuação leal e recíproca, referido princípio também pode ser utilizado pelo julgador como regra de hermenêutica, visando suprir ou alcançar o real alcance do pacto. Vale notar que a inserção do Princípio da Boa-fé Objetiva e da Função Social do Contrato como novos paradigmas contratuais, ao lado de outros clássicos princípios contratuais mencionados no início deste trabalho, possui ambiciosa finalidade: o equilíbrio contratual que, para ser alcançado, outorga ao Estado poderes para intervir maciçamente na relação contratual privada, limitando a autonomia da vontade e relativizando os efeitos contratuais. NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 128. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função Social do Contrato. Os novos princípios contratuais. 1.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004 – (Coleção Professor Agostinho Alvim, Coordenação Renan Lotufo), p. 77. 31 32 62 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA 4 Equilíbrio contratual Como conseqüência do respeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva, somados aos clássicos princípios contratuais – devidamente relativizados frente aos novos paradigmas da teoria contratual, consoante já exposto durante todo este trabalho – ter-se-á o equilíbrio ou equidade contratual. Efetivamente, com o advento do Código de Defesa do Consumidor o contrato passa a ter seu conteúdo e equilíbrio mais controlado, valorizando-se o seu sinalagma, este compreendido como bilateralidade na qual prevalece a vontade da lei sobre a vontade externada pelas partes, evitando-se assim o desequilíbrio contratual. Nesse diapasão, o Estado passou a interessar-se pelo sinalagma das relações privadas, revisando os excessos contratuais, justamente porque, convencido da desigualdade entre os contratantes, deseja proteger o equilíbrio mínimo das relações sociais e a confiança do contratante mais débil. Portanto, o que se busca através da justiça contratual é uma equilibrada repartição, entre os contratantes, de benefícios e encargos contratuais. Segundo Paulo Nalin3331, o Princípio da Justiça ou Equidade Contratual “deverá imperar no contrato, seja ele de longa duração ou não, uma vez que as parcelas reciprocamente devidas nunca poderão estar desajustadas ou sofrer perdas ou ganhos, ao longo a execução avençada”, sendo meio legítimo para se “alcançar a justiça contratual34”. Urge notar que tanto no Código Civil, quanto no Código de Defesa do Consumidor, fartas são as normas positivadas que apregoam o Equilíbrio Contratual. Em especial no que tange a legislação consumerista, insta salientar que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, parágrafo 1.º, inciso II, consagrou explicitamente o princípio do equilíbrio contratual, verbis: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: § 1.º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Assim, considerando que, consoante palavras do doutrinador francês Jacques Ghestin35 “só o contrato justo obriga” a inobservância do Princípio do Equilíbrio ou Justiça Contratual poderá redundar na declaração de nulidade da cláusula abusiva, na revisão da cláusula ou contrato que imponha obrigações desproporcionais entre as partes, no reajustamento de parcelas NALIN, Paulo. Do Contrato: conceito pós-moderno. Em busca de sua formulação na perspectiva civil- constitucional. 1.ª ed., Curitiba: Juruá, 2001, p. 142. 34 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 391. 35 GHESTIN, Jacques. Traité de droit civil: la formation du contrat. 3.ª ed., Paris: LGDJ, 1993, p. 225. 33 63 Artigo 4 ou do contrato ou, quiçá, no reconhecimento de que referida avença ou cláusula contratual não obriga aos contratantes. 5 Consequência legal (sanção) pelo desrespeito aos princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva Vistos os novos princípios norteadores da Teoria Contratual moderna, incumbe indagar: considerando que as disposições legais mencionadas neste trabalho, à primeira leitura, figuram como cláusulas gerais normativas e principiológicas, haveria alguma penalidade legal a ser imposta aos seus violadores? Efetivamente, sob a égide do Código Civil de 1916, não havia previsão expressa de preceito sancionatório ou punitivo ao violador dos princípios da teoria contratual – embora não se olvide que, na época, tais preceitos não eram tão fortificados como nos dias atuais. Tampouco se falava sobre a nulidade/anulabilidade dos contratos, haja vista que, considerando ausência de expressa previsão legal, bem como o fato de que o Código Civil de 1916, no seu artigo 145, previa que a nulidade do ato jurídico somente poderia ser reconhecida “quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito36”, a ineficácia (nulidade ou anulabilidade) do contrato não poderia ser reconhecido pelo Judiciário. Sobre tal prisma, Paulo Nalin menciona que surgiu, assim, “a necessidade de se buscar no seio da doutrina mais especializada, uma solução que se mostre adequada e possibilite que se conclua pela nulidade do negócio contratual que escapa de sua função social. A resposta que se afigurava mais adequada é o reconhecimento da nulidade virtual como uma hipótese aceitável no contexto da teoria das nulidades37”. Ao contrapor a nulidade virtual com a textual, Orlando Gomes deduzia ser aquela implícita, decorrente da função da norma jurídica e não de texto sancionatório expresso, reconhecendo a dificuldade de sua determinação, na ausência de texto legal que a sustente. Contudo, a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em especial o parágrafo único de seu artigo 2035, pôs fim à celeuma ao determinar: Art. 2035 – (...) Parágrafo único – Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 46, prescreve que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. “Pas de nulittés sans texte” – Não há nulidade sem previsão legal. NALIN, Paulo. Do Contrato: conceito pós-moderno. Em busca de sua formulação na perspectiva civil- constitucional. 1.ª ed., Curitiba: Juruá, 2001, p. 238. 36 37 64 CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA Assim, havendo afronta a quaisquer dos preceitos contratuais, o contrato celebrado poderá ser considerado ineficaz. Resta saber que tipo de ineficácia ser-lhe-á imposta: nulidade ou anulabilidade do pacto. Nulidade parece ser a sanção mais adequada ao quadro em questão pois, consoante lição de Pietro Perlingieri38, o regime de nulidade parte de um prisma de intensidades sancionatórias variadas, sendo a nulidade a mais grave e, a anulabilidade, a menos grave. Segundo Perlingieri, a nulidade se dirige à salvaguarda de valores superiores tutelando interesses gerais, ao passo que a anulabilidade se dirige à proteção de interesses individuais das partes. Neste mesmo sentido, Luiz Antonio Rizzato Nunes39 leciona que: Diferentemente do Código Civil que dispõe sobre dois tipos de nulidade: a absoluta e a relativa, a Lei 8078 apenas reconhece as nulidades absolutas de pleno direito, fundadas no seu art. 1.º, que estabelece que as normas que regulam as relações de consumo são de ordem pública e interesse social. Por isso, não há que se falar em cláusula abusiva que se possa validar: ela sempre nasce nula, ou, melhor dizendo, foi escrita e posta no contrato, mas é nula desde sempre. Neste diapasão, considerando os interesses sociais tutelados pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, havendo ofensa a tais princípios, o contrato celebrado ou cláusula em específico poderão ser reputados como nulos, haja vista a gravidade da ofensa que representam. A jurisprudência tem se manifestado nesta linha: Banco. Contrato de mutuo e abertura de crédito rotativo. (...) Juros que constituem o preço pago pelo consumidor. Cláusula prevendo alteração unilateral do percentual previa e expressamente ajustado pelos figurantes do negócio. Nulidade pleno iure. Possibilidade de conhecimento e decretação de ofício (Ap.193.051.216, 7.ª Câm. Do TJRS, rel. Dês. Antonio Janyr Dall´Agnol Junior, JTJRS 697/173) – (Grifo nosso). Note-se que, considerando que as cláusulas contratuais abusivas importam em violação à matéria de ordem pública e interesse social, tais além de serem nulas de pleno direito e possuírem efeito ex tunc4038, poderão ser reconhecidas ex-officio pelo Julgador.Conclusão Diante do exposto, pode-se concluir que é o Princípio Protecionista – previsto já no artigo 1.º da Lei n. 8 078, que inaugura e prevalece sobre o sistema legal consumerista: todas as normas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) têm como princípio e meta a proteção e defesa do consumidor. PERLINGIERI, Pietro. Manuale di diritto civile. Nápoles: ESI, 1997, p. 409. NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 622. 40 Vez que a nulidade é reputada existente desde o nascimento/prática do ato ou fechamento do negócio. 38 39 65 Artigo 4 E é exatamente por isso que, no que tange as relações contratuais de consumo, não se pode olvidar o protecionismo da parte mais débil da relação (consumidor), que deve sempre ser levado em consideração na ocasião do deslinde do feito. Assim, a concepção clássica e histórica do contrato, fulcrada no tripé autonomia da vontade, obrigatoriedade e relativização dos efeitos contratuais é hodiernamente relativizada muito além da seara do consumidor, como também na legislação civil geral, preocupando-se o legislador não somente com a vontade ou obrigatoriedade do pacto celebrado mas, sim, se este o foi estando as partes imbuídas de boa-fé (objetiva e subjetiva) e se tal cumpre sua função social, evitando-se assim o desequilíbrio contratual, tão maléfico à ordem social, mormente quando se tem em consideração que o contrato é visto, hoje, como “instrumento de proteção dos direitos fundamentais do consumidor, dentre eles garantindo-lhe a segurança, qualidade, adequação de serviços”41. Referências AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil. RT, v. 775, p. 13, maio de 2000. BESSONE, Darcy. Do Contrato: teoria geral. 3.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 44. BETTI. Teoria general de las obligaciones. T. I, p. 84. COMPARATO, Fabio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 63, p. 71-79, jul/set. 1986. DINIZ, Maria Helena. Jornada de direito civil. Promovida pelo centro de estudos judiciários do conselho da justiça federal, setembro/2002). GHESTIN, Jacques. Traité de droit civil: la formation du contrat. 3.ª ed., Paris: LGDJ, 1993, p. 225. GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função Social do Contrato. Os novos princípios contratuais. 1.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. (Coleção Professor Agostinho Alvim, Coordenação Renan Lotufo). JUNQUEIRA, Antonio de Azevedo. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado – Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento – Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 750, p. 116, abr. 1998. MAJO, Adolfo di. Obbligazioni in genere. Bologna: Zanichelli, 1985. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 163. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 747-748. NALIN, Paulo. Do Contrato: Conceito pós-moderno. Em busca de sua formulação na perspectiva civil-constitucional. 1.ª ed., Curitiba: Juruá, 2001. NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 128. PERLINGIERI, Pietro. Manuale di diritto civile. Nápoles: ESI, 1997, p. 409. POPP, Carlyle. Responsabilidade civil pré-negocial: rompimento das tratativas. Curitiba: Ed. Juruá, 2001, p. 149. 41 39MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das 66 relações contratuais. 5.ª ed., São Paulo: RT, 2006. p. 258. CONTRATAÇÕES NA SOCIEDADE DE CONSUMO E TECNOLOGIA: FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA- FÉ OBJETIVA REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Cidadania e Justiça. Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros. v. 5, n.º 10, p. 61-73, 1.º semestre 2001. ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 36. STIGLITZ, Ruben. Autonomia de la coluntad y revision del contrato. Contractos: teoria general. Buenos Aires: Depalma, 1993, v. 2, p. 275. 67 Artigo 5 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE Cristiano Dionísio Resumo Os direitos da personalidade constituem-se numa categoria específica de direitos porque são inerentes à própria condição humana. O respeito a tais direitos possibilita a preservação e a promoção do desenvolvimento integral da pessoa em sociedade. Essa hipótese coaduna-se com a cidadania e com o princípio da dignidade humana enquanto fundamentos do estado democrático de direito no Brasil. Percebe-se, em outra perspectiva, que a capacidade cognitiva é elemento intrínseco da citada condição humana. O desenvolvimento de tal capacidade, levado a cabo por sucessivos processos de aprendizagem, deve ser garantido e promovido pelo direito à educação. Os direitos da personalidade, no entanto, por força do seu próprio objeto, não se restringem a uma visão dicotômica do Direito em público e privado. O direito à educação apresentase como exemplo das limitações que essa análise pode trazer. O direito à educação, na perspectiva dos direitos da personalidade, portanto, obtém relevância axiológica ainda maior; pois sua não-observação lesa, a um só tempo , elemento constitutivo da condição humana e, ainda, valores e direitos que fundamentam e legitimam a existência do esta do brasileiro. Como consequência dessa hipótese, o direito à educação vê ampliadas, também, as possibilidades jurídicas e judiciais de sua efetivação. Palavras-chave: Educação; Dignidade humana; Direitos da personalidade. Abstract T1c rights of personality belong to a specific right’s category, because they are inherent to the human nature. Respecting these rights enables the preservation and promotion of the person full development in society. This hypothesis is consistent with the citizenship and the principle of human dignity as democratic foundations of the state of l aw in Brazil. In another way, that cognitive ability is an intrinsic part of that human nature. The development of such ability i s consequence of successive processes of learning; witch must be guaranteed and promoted by the right to education. The rights of personality, however, by virtue of their object, can not be restricted to a dichotomist view of law in a public or private way. The right to education is presented as an example of the limitations that this kind of analysis can bring. The right to education, in view of the right s of personality, get even more importance; because it’s violation leads to a serious damage for the person’s human nature and, at the same time, turns downs the values and rights that legitimize the existence of the Brazilian state. As a consequence of this hypothesis, the right to education has larger possibilities to its legal and judicial execution. Keywords: Education; Human dignity; Rights of personality. 68 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE 1 Considerações iniciais A Constituição Federal de 1988, dentre outros mérito s, cumpriu o escopo de cri ar um novo momento institucional na história do país. Embora se tenha presenciado sucessivos escândalos administrativos e políticos em face dos três poderes constitucionalmente estabelecidos, é forçoso reconhecer que não se fazem mais presentes, mesmo no discurso político mais exaltado, pretensas soluções que não respeitem a estrutura institucional do Estado Democrático de Direito. É possível reconhecer os reflexos dessa perspectiva, bem como dos valores plasmados na Constituição Federal de 1 988, nos diversos níveis de competência normativa do ordenamento jurídico pátrio. Numa perspectiva hermenêutica, por exemplo, sagraram-se os valores e os direitos constitucionalmente estabelecidos como fundamentos dos métodos interpretativos das normas infraconstitucionais. É, pois, por tal motivo que se faz necessária a correta compreensão do significado dos direitos da personalidade, os quais, embora tenham sido explicitados no Código Civil de 2002 (o que representa inovação se comparado com o Código Civil de 1 9 16), já podiam ser identificados em outros diplomas legais anteriores e, com certeza, também no citado texto constitucional. Exemplo irretocável dessa aproximação entre o disposto no Código Civil e na Constituição Federal v i gentes se dá por meio da dignidade humana. na condição de valor jurídico comum a ambas as normas. Pode-se entender, assim, que os direitos da personalidade, tanto numa perspectiva constitucionalista, quanto numa perspectiva civilista (se é que é possível fazer tal recorte teórico), protegem o mesmo bem jurídico em favor da pessoa. É nesse cenário que emerge a compreensão da educação como um dos direitos da personalidade, pois é inerente ao indivíduo e revela-se como sustentáculo fundamental de uma atuação socialmente qualificada e difusora, ela própria, da dignidade do seu titular. O que se pretende, pois, com este artigo, é contribuir com uma perspectiva jurídica em favor da concretização de um direito fragilmente respeitado na eleição de prioridades do estado brasileiro: o direito à educação. Este, comumente, ainda não se mostra massificado, nas possibilidades de acesso e de qualidade, no mérito do seu processo de ensino-aprendizagem. Deseja-se que, por meio desta leitura acadêmica, se esteja contribuindo para a construção de um debate jurídico em favor do educacionismo1. 2 Educação e natureza humana A construção de uma leitura honesta acerca dos direitos da personalidade passa por uma reflexão que se apresenta primeiro como filosófica, para, num segundo momento, revelar-se jurídica: o que é próprio do ser hum ano? Isso significa que o debate jurídico em face da classificação e especificação de quais direiCorrente política enunciada por Cristovam Buarque, ex-Reitor ela UNB, ex-Ministro ela Educação, atualmente Senador da República pelo Distrito Federal. O educacionismo defende a educação como elemento central do processo de transformação cultural e social do Brasil. Não se articula, de forma específica, a qualquer partido político. 1 69 Artigo 5 tos estão ou não vinculados a essa categoria normativa (direitos da personalidade) é fruto direto do referencial teórico adotado por quem se propõe a debruçar-se sobre o tema. Para se compreender, neste artigo, como o direito à educação é inerente ao ser humano, e, portanto, fruto imediato da personalidade deste, adota-se como pressuposto filosófico o entendimento de que o ser humano humaniza-se em sociedade. O processo de aprendizagem, entende-se, é o fato determinante na humanização do indivíduo e das possibilidades de seu reconhecimento e atuação no entorno social. Essa perspectiva evidencia, portanto, que o ser humano não possui tão somente uma dimensão fisiológica, mas também uma dimensão lógica. O acima exposto pode ser compreendido como uma leitura clássica sobre o tema, na perspectiva em que importantes referenciais teóricos dessa linha são, de fato, do período clássico da filosofia grega. Platão e Aristóteles são exemplos notórios. Adotando A República como elemento de referência da obra de Platão, para o objeto deste artigo, percebe-se como o autor entende que a formação humana está lastreada não somente no exercício da razão, mas, sobretudo, no exercício virtuoso desta em busca da verdade, o que somente será possível se orientada por um valor fundamental: o sumo bem. A metáfora desse processo de descoberta-e-libertação, que somente o exercício virtuoso da razão pode propiciar, encontra-se ilustrada naquela que é uma das passagens mais famosas do referido texto: o Mito da Caverna. Esse Mito não se vincula somente à formação de uma alma justa, ou, ainda, à formação de um filósofo. O Mito da Caverna pode ser interpretado também como uma ilustração da libertação do homem por meio do processo educacional. Por óbvio. a educação não se restringe a um processo de acúmulo e memorização de dados, mas se expande em direção ao exercício de um processo de aprendizagem que tem por fundamento uma interpretação crítica da realidade22. Na República isso se evidencia pelo próprio método utilizado. O ato filosófico retratado na obra não representa um tratado, mas sim um debate entre Sócrates, Trasímaco, Glauco e Adimanto. Essa perspectiva tem importância singular n a medida em que revela que a educação e seu processo de aprendizagem não são autônomos, mas decorrem de urna necessária interação social. A construção do pensar filosófico de Platão, influenciado diretamente pelo método socrático, possui na interação social sua ferramenta de construção filosófica. É importante destacar, para que se tenha a correta interpretação do apresentado, que a obra de Platão, sem dúvida, aborda uma série de outros temas caros e importantes à Filosofia e aos seus objetos de análise; porém não há como negar que o fundamento do ato filosófico apresentado por ele se inicia com a contemplação, mas somente se perfectibiliza (na medida humanamente possível) por meio da educação enquanto elemento social. Aristóteles ao seu tempo, e ao seu modo, é mais incisivo na caracterização do ser humano como ente essencialmente social. O estagirita, na sua obra Política, é contundente ao indicar que o locus do homem é a sociedade, a qual permite que o sujeito acesse, reconheça e se aproprie da 2 PLATÃO. A República. Tradução de: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 229-232. 70 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE linguagem, dos seus sistemas de valores e das possibilidades de pensar filosoficamente. Não houvesse interação social, o indivíduo, portanto, não desenvolveria a dimensão de sua existência que o torna único diante dos demais entes da realidade, o exercício virtuoso de sua razão3. Não se pode, por certo, desejar a simples transposição de ideias elaboradas no século IV a.C. para o século XXI d.C. Este texto não se apresenta para tanto. É válido destacar, porém, que ao lado das tradicionais questões filosóficas sobre a natureza humana, suas características, sua origem, seu destino e sua interação com o todo que o cerca, a reflexão sobre o processo de aprendizagem e a forma educacional que leva a tanto também se fizeram presentes. É possível, com isso, evidenciar que não se caracteriza o ser humano sem mencionar ao seu processo de aprendizagem sobre a realidade na qual está inserido; bem como não se pode compreender o processo de aprendizagem fora de uma perspectiva educacional. A capacidade cognitiva4 pode ser interpretada, pois, como decorrente da pessoa, porém seu desenvolvimento não é autônomo; faz-se por meio de estímulos provenientes de um processo educacional que é fruto de um entorno social. Carlos Rodrigues Brandão5, com singular poder de síntese, assevera: “Ninguém escapa da educação’’. O conteúdo do processo educacional mudará de acordo com o momento histórico, a estrutura social e, inclusive, em face da estrutura e organização política da sociedade. Ainda assim, o processo educacional é uma constante da sociedade. Nas palavras do autor6: A educação é. como outras, uma fração d o modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam. Entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta. as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a d e cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita ; e desde onde ajuda a explicar - às vezes a ocultar, às vezes a inculcar - de geração em geração, a necessidade da existência de sua ordem. Tendo como premissa, portanto, que os direitos da personalidade provêm de atributos inerentes à pessoa, é forçoso reconhecer que a capacidade cognitiva insere-se no rol de tais elementos intrínsecos ao indivíduo. Se o direito ao corpo decorre da vida enquanto atributo inerente à pessoa, por exemplo, entende-se que é correto pontuar que o direito à educação decorre da capacidade cognitiva, pois esta, tanto quanto a vida, também é atributo inerente ao sujeito. ARISTÓTELES. Política. Tradução de: Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 13-15. Capacidade de atribuir significados aos lementos presentes na sua realidade. BOCK, Ana M.Bahia: FURTADO. Odair: TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias - Uma introdução ao estudo da Psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p.117. 5 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação? 18. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 7. 6 Ibid p. 10-11 3 4 71 Artigo 5 Filosofia, Psicologia e Pedagogia figuram corno exemplos de campos do conhecimento humano que aprofundam o estudo sobre os processos e mecanismos presentes no processo de aprendizagem e na edificação de estruturas cognitivas, bem como dos métodos mais adequados de desenvolvê-las7. Se por um lado tal dimensão não é própria da ciência jurídica, por outro, cabe ao direito reconhecer a essencialidade da capacidade cognitiva, dentre os demais atributos inerentes à pessoa, e tutelá-lo coma relevância jurídica que o tema merece. 3 Educação e direitos da personalidade Examinando-se o conteúdo jurídico dos direitos da personalidade, é pacífico o reconhecimento de que o valor jurídico a ser considerado como eixo interpretativo é a dignidade humana. É possível afirmar que, embora existam divergências em face das possibilidades de classificação e especificação dos direitos da personalidade, que serão trabalhados logo adiante, a dignidade humana é o ponto de convergência entreos autores pátrios. A razão normativa para tanto se encontra no próprio texto constitucional de 1988 que, ao incluir a dignidade humana como fundamento do estado brasileiro (art. I?, III), descortinou novas possibilidades de atuação social e judicial em face do ordenamento jurídico pátrio. Diante desse cenário, resgatou-se a pessoa e a cidadania como elementos centrais e principais destinatárias da ação de todo e qualquer tipo de poder a ser exercido (art. 1.º,§ único). Fica positivado na Constituição Federal, assim, que a garantia da vida humana, por si, não é suficiente ao estado brasileiro. O critério não é mais simplesmente objetivo, mas também qualitativo. A vida torna-se, em face da Constituição Federal, mais que a mera sobrevivência. É dever do estado brasileiro, portanto, permitir, garantir e promover as condições para urna vivência digna de todos os seus cidadãos e cidadãs. Nessa perspectiva, ao se vislumbrar que a vida e sua preservação são os fundamentos de todos os demais direitos inerentes à pessoa, o princípio da dignidade humana projeta-se como elemento condicional para a realização do sujeito em sociedade, e, por extensão, dos direitos da personalidade. É a partir desse entendimento que Elirnar Szaniawski8 realiza análise sistemática do texto constitucional e pontua que o exercício pleno da cidadania (art. 1º, II) e a promoção da dignidade humana (art. 1º, III) revelam-se, em conjunto. Como cláusula geral de proteção da personalidade do indivíduo. Prova da relevância, bem como da logicidade do entendimento anteriormente indicado, dá-se ao se caracterizar a violação dos direitos da personalidade como hipótese de dano moral direto, na perspectiva em que tal violação atenta contra a própria personalidade do sujeito e a dignidade inerente a ela. Esse autor, mesmo já tendo realizado a interpretação constitucional que demonstra a BOCK, Ana M. Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias – Uma introdução ao estudo da Psicologia . 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 117-131. 8 SZANIAWSK1, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 240. 7 72 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE complementaridade existente entre a personalidade, os direitos da personalidade, o exercício da cidadania e, ainda, o princípio da dignidade humana, resgata a perspectiva filosófica que é inseparável do tema: “os direitos da personalidade se enquadram dentro do conceito de’9-direito natural, justamente por se apoiarem na natureza das coisas”.9 Com essa assertiva propõe-se que não cabe ao conteúdo das diversas espécies normativas, quer sejam de perfil constitucional, quer infraconstitucional, descrever ou inscrever o que corresponde à vida digna e seus consequentes direitos da personalidade - uma vez que é da própria natureza da pessoa que tais conteúdos decorrem. Reconhecendo-se que a essência do homem ou, ainda, aquilo que lhe é inerente determinam o significado da dignidade humana e dos direitos da personalidade, não é possível limitá-los a uma visão tão restritiva como a hipótese de classificá-los como de ordem pública ou privada. Segundo Elimar Szaniawski10: Nesse sentido, os direitos de personalidade não são divisíveis em direitos da personalidade públicos e privados. Os direitos de personalidade, por serem da personalidade humana, transcendem não só uma disciplina jurídica, mas todo um ramo, não cabendo estes direitos na divisão dicotômica do direito em público e privado. Essas perspectivas constitucionalistas bem como o resgate de um referencial jusfilosófico para iluminar o conteúdo apresentado fazem reforçar o entendimento de que o direito à educação corresponde ao campo dos direitos da personalidade. Ao se reconhecer que a capacidade cognitiva, base do processo de aprendizagem, é fundamentalmente ligada à pessoa, ao indivíduo, e, ainda, que o processo educacional, que promoverá tal aprendizagem, é social e não autônomo, percebe-se que classificar o direito à educação como sendo pertinente somente ao direito público ou ao direito privado é trabalhar pelo empobrecimento do tema ora em comento. Tem-se, de tal arte, que o direito à educação está ligado à realização de uma dimensão fundamental da natureza humana e que, portanto, lhe é inerente: sua capacidade cognitiva, ou seja, a efetivação do direito à educação é, ao mesmo tempo, legítimo interesse do indivíduo e também da sociedade. Em outras palavras: a educação é um dos elementos de operacionalização do Bem Comum. É curioso notar que situação similar havia sido trabalhada por Tomás de Aquino na Idade Média. Esse filósofo, ao seu tempo, propugnou pela superação de uma pretensa dicotomia que emergia no debate filosófico do século XIII11: a oposição entre corpo e alma. Ao caracterizar o ser humano como a união substancial de corpo e alma, torna-se possível superar a citada divisão e compreender que há uma relação de complementaridade entre ambos SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 241. Ibid. p. 243 11 AQUINO, Santo Tomás. Verdade e Conhecimento – Questões disputadas “Sobra a verdade” e “Sobre o verbo” e “Sobre a Diferença entre a palavra divina e a humana”. Tradução, estudos introdutórios e notas de: Luiz Jean Lauand e Mario Bruno Sproviero. São Paulo: Martins Fontes. 2002. 9 10 73 Artigo 5 os elementos. Nessa relação, na perspectiva da aquisição de conhecimento, por exemplo, a alma intelege aquilo que o corpo, por meio dos sentidos, seria capaz de apreender. Se numa perspectiva epistemológica tal entendimento hoje se mostra questionável, é importante citar que ele possibilitou uma nova leitura do exercício da função pública, que deve levar em consideração essas dimensões. Desse referencial tomista tem-se que a realização do Bem Comum na sociedade estará diretamente vinculada à garantia e promoção dos elementos que aproveitam a todos e, ainda assim, permitem a realização da natureza de cada indivíduo. A educação, regressando à perspectiva jurídica, permite ao indivíduo um exercício mais efetivo e pleno de sua cidadania, o que é um dos fundamentos do estado brasileiro de acordo com a Constituição Federal vigente: não obstante, ao mesmo tempo, permite a realização de urna dimensão imprescindível da personalidade do sujeito e, portanto, da própria natureza humana: o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva por meio da promoção da aprendizagem no citado processo educacional. A corroborar tal raciocínio é possível, por exemplo, estabelecer uma relação com o conteúdo jurídico dos direitos da personalidade na perspectiva de Orlando Gomes12. Para superar uma série de objeções históricas em face da caracterização dos direitos da personalidade, o autor propõe que a definição de tais direitos tenha estrita ligação com o objeto sobre o qual ele incide. Quanto mais tais direitos forem diretamente vinculados ao seu objeto, mais próximo se estará de uma precisão jurídica do seu conteúdo. Ocorre, porém, que o objeto do direito é o bem jurídico e, desde um primeiro momento, percebe-se que pessoas são sujeitos de direito, e não objetos dele. A solução apresentada pelo autor é o entendimento de que “nos direitos de personalidade, sujeito e objeto se confundem”1313 Significa dizer que a personalidade é um atributo inerente ao ser humano ; o direito não a cria, mas a reconhece. Ela se apresenta como condição mínima e necessária para que o sujeito possa contrair direitos e obrigações. O referido atributo não pode ser interpretado como sinônimo das ferramentas jurídicas que visam a tutelá-lo ou promovê-lo. Os direitos da personalidade não se confundem com a personalidade em si, mas esta última é o que determina a possibilidade de existência e correição dos enunciados normativos que caracterizam os primeiros. O autor, da forma exposta, assevera: A teoria dos direitos da ‘Personalidade somente se liberta de incertezas e imprecisões se sua construção se apoia no Direito Positivo, e reconhece o pluralismo desses direitos ante a diversidade dos bens jurídicos em que recaem, tanto m ais quanto são reconhecidamente heterogêneos.14 Compreende-se, assim, que a personalidade e os direitos da personalidade são elementos GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 151. Ibid. p. 151. 14 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 152. 12 13 74 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE distintos. A personalidade é inerente à pessoa, sendo reconhecida pelo direito. Já os direitos da personalidade, de outra sorte, não são decorrentes da pessoa em si, mas do ordenamento jurídico. É preciso lembrar, no entanto, que a personalidade possui caracteres específicos a serem observados, sob pena de se colocar em risco a sua própria atualização pelo indivíduo. Os direitos d a personalidade, em face do exposto pelo autor, para gozarem de efetividade, deverão estar ligados diretamente aos caracteres evidentemente presentes na personalidade do ser humano. Permite- se presenciar, novamente, a influência da filosofia tomista na concreção dos direitos da personalidade. Para Tomás de Aquino, a união substancial de corpo e alma é a raiz da natureza humana15. Esta raiz faz germinar o ser humano como uma constante sucessão de transformações de potência em ato. A potência, na leitura do aquinate , está presente na alma. A concretização de tal possibilidade, no entanto, realiza-se, torna-se ato, por meio do corpo. O homem, com isso, atualiza em sua vida o que em sua natureza é pura potência. Ao se projetar esse cenário para o campo jurídico dos direitos da personalidade, vislumbra-se que a personalidade (potência), enquanto capacidade de direito ou aptidão genérica para contrair direitos e obrigações16, somente pode ser exercida (atualizada), se seus caracteres fundamentais forem devidamente respeitados e protegidos. Se os diversos eventos cotidianos atualizam a potência da natureza de cada ser humano, é o respeito aos caracteres fundamentais da personalidade que possibilitará a realização social e jurídica do indivíduo em sociedade. Neste momento, mais uma vez, torna-se forçoso reconhecer que a capacidade cognitiva é dimensão essencial da personalidade humana e a educação é o direito que lhe corresponde; na medida em que tal capacidade cognitiva (atributo específico da personalidade/potência) somente se desenvolve por meio da garantia, da promoção e do acesso ao processo educacional que, em última análise, é natural da própria sociedade. Viu-se, até o momento, que os estudos dos direitos da personalidade são diretamente influenciados pelos referenciais teóricos adotados por seus pesquisadores. Constatou-se ainda que, ao assumir como válida a proposição de que o ser humana possui em sua natureza (numa visão filosófica) elementos materiais e imateriais, a personalidade terá atributos de ambas as perspectivas, sendo que na imaterial reconheceu-se que a capacidade cognitiva é inerente ao ser humano. Tal capacidade, no entanto, desenvolve-se por meio de um processo de aprendizagem que somente se faz presente por interrompido de práticas educacionais. Estas são obstantes, somente se concretizam em face da interação social. A educação emerge, portanto, como elemento operacionalizador do Bem Comum, na medida em que aproveita todos, e, ao mesmo tempo, é de legítima necessidade individual. Isso permitiu, em síntese aferir que o direito à educação deve ser interpretado como direito da personalidade na medida em que viabiliza a efetivação de uma característica intrínseca ao ser humana: o ato reflexivo em face da realidade que o cerca. BITTAR, Educardo C, B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de Almeida. Curso de filosofia de direito. 4. ed. São Paulo: Atlas. p. 198. 16 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 26. ed. v. I. São Paulo: Saraiva. p. 152. 15 75 Artigo 5 4 Enquadramento do direito à educação como direito da personalidade Existem autores que entendem adequada uma separação normativa e teórica entre o que caracteriza os direitos da personalidade e o que caracteriza as liberdades públicas individuais. Citam-se, a guisa de exemplo, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho17, bem como Inácio de Carvalho Melo18 e Roberto Sinese Lisboa19. Os autores indicados interpretam que os direitos da personalidade, como inerentes ao próprio homem, devem ser reconhecidos e protegidos pelo Estado; ou, ainda, que caberia à coletividade o cumprimento do dever jurídico de não prejudicar, impedir ou embaraçar o exercício de tais direitos. Já as liberdades públicas apresentariam como característica o deliberado comportamento de um indivíduo em face do qual o Estado tem o dever jurídico de garantir o exercício de tal direito (faculdade). Inácio de Carvalho Neto20 propõe a seguinte síntese: Em outras palavras, enquanto os direitos da personalidade afirmam a proteção avançada da pessoa humana, estabelecendo condutas negativas da coletividade (obrigação de não fazer, isto é, não violar a personalidade de outrem), as liberdades públicas funcionam a partir de garantias constitucionais, impondo condutas positivas ao Estado para que estejam assegurados os direitos da personalidade. Roberto Senise Lisboa21 realiza leitura igual: Os direitos da personalidade são estudados á luz do direito privado, no qual é estabelecida a regra da obrigação de não fazer imposta à coletividade em gera l, cuja finalidade é proporcionar que o titular dos direitos essenciais possa usufruí-los da melhor maneira. As liberdades públicas se fundam na necessidade de uma obrigação de fazer do Estado, a fim de que tais direitos sejam efetivamente consagrados, garantidos e protegidos. Vale destacar, no entanto, que o reconhecimento da cidadania e da dignidade humana como fundamentos do estado brasileiro, conforme determinado na Constituição Federal, não permite uma visão privatista ou pública dos direitos da personalidade, pois, pela própria dinâmica de tais direitos e principalmente pela natureza específica de seu objeto (personalidade), tais visões se encontrariam superadas. GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil – Parte Geral. 8. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2006. 18 NETO, Inácio de Carvalho, Curso de direito civil. v. 1. Curitiba: Juruá, 2006. 19 LISBOA, Roberto Senise 20 NETO. Inácio de Carvalho. Curso de direito civil. v I. Curitiba: Juruá. 2006. P.126. 21 LISBOA. Roberto Senise. Manual de Direito Civil. v. I. São Paulo: Saraiva. 2008. p. 166. 17 76 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE A razão de tal superação possui ao menos três fundamentos merecedores de destaque. Primeiro, a impossibilidade de o Estado determinar qual o conteúdo da personalidade. Segundo, o Estado tem nos sujeitos os destinatários e o critério de legitimação de sua existência e estrutura de poder, conforme art. 1º, § único, da Constituição Federal. Terceiro, o sujeito, de acordo com o referencial teórico ora adotado, não se realiza de forma isolada, mas somente em sociedade. Uma eventual perspectiva privatista dos direitos da personalidade, com isso, somente possui lógica em face de um terceiro, pois é da interação com o próximo que o homem humaniza-se e atualiza (realiza) sua personalidade (potencialidade). O reconhecimento do direito à educação como direito da personalidade contribui, inclusive, para ratificar a interpretação de Elimar Szaniawski, conforme anteriormente indicado. Não é possível falar de direito da personalidade como relacionado às liberdades públicas porque seu fundamento axiológico e teleológico não se reduz à norma; ao contrário, distancia-se do conteúdo estrito delas ao espraiar-se por sobre a natureza humana e sua correspondente dignidade, elementos que, embora juridicamente tutelados, não possuem seus conteúdos vinculados normativamente. Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira22: A concepção dos “direitos ela personalidade” sustenta que, a par dos direitos economicamente apreciáveis, outros há, não menos valiosos, merecedores de amparo e proteção da ordem jurídica. Admite a existência de um ideal de justiça, sobreposto à expressão caprichosa de um legislador eventual. Atinentes à própria natureza humana, ocupam eles posição supraestatal, já tendo encontrado nos sistemas jurídicos a objetividade que os ordena, como poder de ação judicialmente exigíveis. O direito à educação, como direito da personalidade, revela-se, assim. não só no viés de uma necessidade jurídica em face de um atributo específico da personalidade humana (capacidade cognitiva), mas também como relevante indício da concretização de práticas promotoras do Bem Comum . Percebe-se, indo além, que as hipóteses de classificação dos direitos da personalidade adotam como ponto de partida aquilo que é inerente ao ser humano. Acolhe-se, pois, o posicionamento mais comum na doutrina pátria, o qual considera como direitos da personalidade inatos aqueles que se adquirem ao nascer com vida e se mantêm enquanto ela existir. Os direitos da personalidade inatos projetam-se em eixos de organização que podem variar de acordo com os autores. Os eixos mais citados pela doutrina, ainda que com pequenas variações terminológicas, foram apresentados por Limongi França e Carl os Alberto Bittar23: o direito à integridade física , direito à integridade intelectual/ psíquica e direito à integridade moral. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do direito civil – Introdução ao direito civil. Teoria geral de direito civil. v. 1. 21. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 237-238. 23 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. v. I. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 170. 22 77 Artigo 5 Orlando Gomes24 e Washington de Barros Monteiro25 adotaram a classificação dos direitos da personalidade em duas categorias, quais sejam, direito à integridade física (vida e corpo) e à integridade moral (honra, liberdade, recato , imagem, nome e autoria). Outros autores consultados, como Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, Maria Helena Diniz e Inácio de Carvalho Neto, filiaram-se à classificação na forma dos três eixos conforme citado anteriormente. A defesa do reconhecimento do direito à educação como direito da personalidade, conforme exposto, decorre do entendimento já consolidado de que a personalidade do sujeito apresenta-se por meio de situações materiais e imateriais. Reconhecendo que a capacidade cognitiva está ligada à atividade psíquica íntima do indivíduo, vislumbra-se que é neste eixo, o d a integridade psíquica, que se faz presente o direito à educação. Muito se tem discutido sobre a necessidade de se resgatar a pessoa e suas demandas e necessidades concretas como elementos centrais de uma nova prática para o Direito Civil. Uma prática que se demonstre de vanguarda na construção de soluções para uma sociedade que se depara com o que parece ser o esgotamento de uma forma de se exercer o Direito. Tal perspectiva doutrinária prima pela dignidade humana, pela função social dos contratos, da posse e da propriedade, e, ainda, pela aquisição e manutenção de um patrimônio mínimo que permita a satisfação das necessidades fundamentais dos indivíduos e suas famílias. Não há justificativa, nesse contexto, para que se reconheça o direito autoral como decorrente dos direitos da personalidade, no eixo da integridade psíquica (liberdade de criação), e não se adote o mesmo critério para o processo educacional que, ao viabilizar a aprendizagem, contribui com o ato criativo em si. Merece destaque o entendimento de Roberto Senise Lisboa26, que explicitamente discorre sobre o tema: A integridade psíquica também é protegida desde a infância, buscando-se o desenvolvimento da criança e do adolescente e sua inserção na convivência social. Da educação que se recebe nos primeiros sele a nos de existência edifica-se o caráter da pessoa e demonstram-se as alternativas de vida que ela pode escolher. O Direito Civil, que valoriza conceitos importantes como boa -fé, autonomia da vontade e liberdade de estipulação negocial (principalmente se devidamente sopesado s em face de outros princípios constitucionais c civis), não pode admitir que exatamente o direito ao processo educacional , que possibilita ao sujeito atuação jurídica e social mais qualificada, não seja considerado um dos direitos da personalidade. GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 153-154. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil – Parte geral. 39. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 96. 26 LISBOA. Roberto Senise. Manual de direito civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 171. 24 25 78 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE As características27 dos direitos da personalidade também são identificáveis no direito à educação, adquirido de forma não onerosa e original, na medida em que este faculta singularmente ao seu titular o processo de aprendizagem que somente é possível em face da capacidade cognitiva inerente ao homem. O direito à educação é extrapatrimonial, pois não há como alienar, ou, de outra forma, fazer circular economicamente a necessidade e a capacidade de aprendizado que a pessoa possui . O direito à educação é indisponível ao não se vislumbrar hipótese de renúncia ao direito de aprender; afinal, o não-exercício de tal direito não acarretará na impossibilidade futura de efetivá-lo. O direito à educação é perpétuo na medida em que adere ao seu titular até que se tenha caracterizado o fim da existência legal daquele28. “O direito à educação é oponível erga omnes na medida em que, da sua realização, depende o pleno desenvolvimento da capacidade do indivíduo e, de tal arte, cabe aos d em ais indivíduos em sociedade não intervirem nesse processo e ao poder público garanti-lo. Embora o ato educacional seja social, o processo íntimo da aprendizagem é personalíssimo o que, a um só tempo, torna evidente a intransmissibilidade, a incomunicabilidade e a impenhorabilidade do direito à educação. Da mesma forma, no exercício do direito à educação não se vislumbra a possibilidade de caracterização da prescrição de tal direito. 5 Considerações finais Os direitos da personalidade, explicitados no texto do Código Civil de 2002, são a cristalização de um critério de tipificação para a determinação d e tai s direitos. d e acordo com locução de Elimar Szaniawski. Isso, por certo, não significa que o referido rol de direitos seja exaustivo, mas tão e simplesmente exemplificativo. Tem-se, assim, que não há impedimentos normativos para a caracterização do direito à educação como um dos direitos da personalidade. Fábio Ulhoa Coelho29 insurge-se contra o que pode parecer não o exercício de uma pesquisa jurídica, mas, sim, uma demonstração de vaidade de alguns autores: Na verdade, os direitos da personalidade são um catálogo de faculdades jurídicas cuja extensão varia de acordo com o tecnólogo e suas preferências (parece, por vezes, que alguns competem na busca de novo itens para o cardápio). Felizmente este não é o caso. O direito à educação, como direito da personalidade, incide de forma direta sobre elemento intrínseco da própria personalidade, qual seja, a capacidade cognitiva que é inerente aos seres humanos. É a educação, portanto, que viabilizará um processo de aprendizagem que não somente contribuirá para a realização da personalidade do sujeito, mas também para o processo de construção da dignidade humana, fundamento do estado brasileiro. Ibid. p. 168-169 Tal hipótese pode ser verificada em face de um contrato junto a uma instituição educacional ou, ainda, por meio de determinação legal nos casos de jubilamento, mas isso não acarretará na perda do direito à educação em si. Nada impedirá o educando de realizar o competente processo de avaliação acadêmica ou reiniciar sua iniciativa 29 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. I. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2003. p. 183. 27 28 79 Artigo 5 É fato que não faltam normas a tutelar o direito à educação. A Constituição Federal, por exemplo, identifica no caput do seu artigo 6º a educação como um direito social e aprofunda normativamente as disposições sobre o tema por meio do art. 205 e seguintes. No Código Penal tem-se a tipificação da conduta daquele que não promove a educação de pessoa por quem é responsável. Trata-se do crime de abandono intelectual previsto no artigo 246 do referido diploma legal. O Estatuto da Criança e do Adolescente possui diversos artigos referentes ao tema, todos estabelecendo uma responsabilidade concorrente entre a família, os responsáveis e o poder público na promoção e garantia da educação”- são exemplos os artigos 4º, 22, 53,62 e 136 . Não se pode deixar de lado, por óbvio, as normas de caráter específico como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, lei n? 9 394 de 20 de dezembro de 1996. Ao natural emerge, pois, a questão: já não seriam suficientes as disposições normativas existentes acerca do tema? Humildemente entende-se que não. A perspectiva apresentada para o direito à educação, como direito da personalidade, agrega-lhe nova projeção axiológica no ordenamento jurídico. Se por força do texto constitucional de 1988 o princípio da dignidade humana transformou o direito à vida num elemento mais vinculante como o direito à vida digna, é forçoso reconhecer que não existe tal dignidade sem o íntegro respeito e a garantia ao desenvolvimento da personalidade de cada sujeito. Sendo a capacidade cognitiva dimensão fundamental da personalidade humana, percebe-se que, caracterizada a falta do seu desenvolvimento, por meio de um processo de aprendizagem devidamente articulado em face do direito à educação, a própria personalidade fragiliza-se. Afirma-se, assim, que ao se adotar o direito à educação como um direito da personalidade, evidencia-se que a educação está para a v id a digna assim como o corpo está para a vida. O corpo sustenta a vida enquanto fenômeno natural, mas é o direito à educação que singulariza a vida humana em face de todos os demais sistemas vivos existentes na realidade. O direito à educação, como direito da personalidade, insere-se no rol de direitos que promovem e protegem à integridade psíquica do ser humano, o que descortina outras possibilidades de interpretação doutrinária ‘, bem como de proteção judicial. 6Referências AQUINO , Santo Tomás. Verdade e conhecimento - Questões disputadas “sobre a verdade” e “sobre o verbo” e “sobre a diferença entre a palavra divina e a humana “. Tradução, estudos introdutórios e notas de: Luiz Jean Lauand e Mario Bruno Sproviero. São Paulo: Martins Fontes, 2002. ARISTÓTELES. Política. Tradução de: Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002. BITTAR , Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de Almeida . Curso de filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. BOCK, Ana M. Bahia ; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. PsicologiasUma introdução ao estudo da psicologia . 13. ed. São Paulo: Saraiva , 1999. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação? 18. ed. São Paulo: Brasiliense. 1986. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. 1. ed. v. l. São Paulo : Saraiva. 2003. DINIZ, Maria Helena . Curso de direito civil brasileiro. 26. ed . v. 1. São Paul o : Saraiva .2009. 80 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE GAGLJANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FlLf-lO, Rodolfo. Novo curso de direito civil Parte geral. 8. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2006. GOMES. Orlando. Introdução ao direito civil 12. ed. Rio de Janei ro: Forense, 1996. LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2008 . MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro. Curso de direito civil- Parte geral. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil - Introdução ao direito civil. Teoria Geral de Direito Civil. 21. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2005. PLATÃO. A república. Tradução de: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004 . SZANIAWSKI , Elimar. Direitos da per sonalidade e sua tutela. 2. ed . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 81 Artigo 6 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO Elton Baiocco1 Resumo Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal de 1988 garante ao Estado o monopólio da jurisdição, impõe-lhe o dever de oferecer um processo justo e em tempo razoável. A realidade, porém, demonstra que a morosidade do Poder Judiciário alcança níveis inaceitáveis. O desenvolvimento das Tecnologias da Informação acarretou transformações sociais que agravaram ainda mais as exigências de redução do tempo de resposta jurisdicional. O uso dessas novas tecnologias permite extrair importantes contribuições da informática e tornar realidade a garantia à razoável duração do processo, sem abrir mão das demais garantias constitucionais aplicáveis ao processo judicial. Palavras-chave: Razoável duração. Tecnologias da Informação. Processo eletrônico. Princípios processuais. Abstract The 1988 Federal Constitution ensures the state jurisdiction monopoly, but at the same time it determines the state ought to offer due processes in a reasonable period of time. However, in practice the department of justice slowness reaches inacceptable levels. In addition, development of new information technologies brought about social changes which demand increased time-reduction concerning jurisdictional solutions. The optimization of new information technologies can bring important contributions regarding informatics and ensure due processes have reasonable time-duration without putting aside other applicable constitutional guarantees. Keywords: Reasonable time-duration. Information Technologies. Electronic process. Procedural principles. 1Introdução Inicialmente, a ideia de colocar a informática a serviço da justiça parecia que não encontraria adeptos. Como relatam Garcia MARQUES e Lourenço MARTINS, “o computador era considerado como um instrumento de cálculo incapaz de desempenhar uma qualquer função judiciária”2. O direito, enquanto fenômeno cultural, não poderia, contudo, escapar infenso à realidade que lhe circunda. Na década de 1990, o processamento eletrônico de dados jurídicos despertou o interesse para a automatização dos tribunais. Egresso do Curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, conclusão em 2009. Mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR. Professor do Curso de Direito da Faculdade Dom Bosco. Advogado. Membro do Instituto Paranaense de Direito Processual (IPDP). 2 MARQUES, Garcia. MARTINS, Lourenço. Direito da Informática. p. 75. 1 82 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO A necessidade de fazer uso ótimo destas novas tecnologias no processo civil tornou indispensável a regulação legal da matéria, que, no caso brasileiro, se deu por meio da Lei nº. 11.419/2006. Sucede, porém, que o aludido diploma não cuidou suficientemente da passagem da tramitação processual dos autos físicos para o meio virtual, sendo, pois, pertinente, discorrer acerca dos impactos que a informatização impôs ao processo civil. 2 A Nova roupagem da jurisdição no processo eletrônico Por processo eletrônico não deve ser compreendido a mera transferência, armazenamento, processamento e manipulação de dados. A proposta mais atual vai além e tem a ver com a verdadeira mudança de paradigma. A inovação é mais profunda, mais técnica, mais científico-processual e voltada a um processo de resultado substancial, desburocratizado, acessível, célere e eficaz. Em termos objetivos, a prevalecer a ideia de mera digitalização dos autos processuais e de prática de alguns atos processuais com o uso de recursos de informática e de Tecnologia da Informação, estar-se-ia repetindo na nova acepção de processo (eletrônico), os mesmos vícios aos quais incorre o processo atual.3 Para alcançar os propósitos de celeridade, segurança e eficácia, o processo eletrônico precisa ser visto a partir de todas as suas potencialidades. Necessário, outrossim, abandonar o conservadorismo que tradicionalmente acompanha os operadores do Direito. Sendo a acepção de jurisdição moldada a partir do conjunto de valores e de ideias de uma determinada época, inexorável se faz a releitura de seu papel diante da sociedade da informação e do processo eletrônico. 2.1 A jurisdição na sociedade da informação Nem a tecnologia determina a sociedade, nem tampouco esta estabelece os rumos da primeira. Para Manuel Castells, há uma interação dialética entre ambas, de modo que “a tecnologia não determina a sociedade: incorpora-a. Mas a sociedade também não determina a inovação tecnológica: utiliza-a”4. Devido à sua capacidade de penetração nas mais diversas esferas da atividade humana, a Tecnologia da Informação é tida como verdadeiramente revolucionária. Com efeito, os principais processos de geração de conhecimentos, produtividade econômica, poder político ou militar, bem como a comunicação, foram todos transformados pelo paradigma informacional. Há, ademais, verdadeiro ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso, sendo essa lógica responsável não apenas pela conexão do mundo por meio da Tecnologia da Informação, como também pela velocidade com a qual ela ocorre.5 GARCIA, Sérgio Renato Tejada. Processo eletrônico na Justiça Federal. In: Encontro Íbero Latino Americano de Governo Eletrônico. 8. 2009, Florianópolis, p. 12-13. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/23840613/Processo-eletronico-na-Justica-Federal>. Acesso em: 15 nov. 2014. 4 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v.1, p. 43. 5 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, v.1, p. 69-70. 3 83 Artigo 6 A expressão “sociedade da informação” data de 1975 e teve origem na OCDE. O mesmo termo, porém, referindo-se às infraestruturas da informação, foi também utilizado por Jacques Delors, em 1993, na Comunidade Europeia. Esse novo paradigma de sociedade, pautado pelo exlente uso das novas tecnologias, permite tratar, armazenar, recuperar e transmitir informações sob as formas escrita, sonora ou visual, sem restrições de distância, tempo ou volume. O modo de desenvolvimento econômico e social que emerge nesse contexto constitui o traço marcante dessa sociedade, na qual a informação foi alçada à importante fonte de poder.6 Evidente, pois, que o modelo contemporâneo de Estado e de jurisdição encontra-se já permeado por tais característicos, perante os quais certamente não permanecerá indene de transformações. Sob o aspecto temporal, o clamor por uma prestação jurisdicional célere alçou a razoável duração do processo ao rol de garantias fundamentais.7 No que concerne ao desaparecimento dos limites territoriais, é premente a necessidade de uma reformulação da teoria do ato processual a partir da ideia de ubiquidade que aflora no processo eletrônico. Ao tratar da forma como as novas tecnologias impactam o direito e os tribunais, Boaventura de Souza Santos8 aborda a “operacionalidade organizacional interna dos tribunais”, bem como a nova relação estabelecida “entre os tribunais e a sociedade [...] informatizada e mediatizada”. Para o autor, ambas as questões são técnicas e ao mesmo tempo políticas, e fazem parte de um debate mais amplo, o qual envolve a significação social, econômica, política e cultural do que denomina a “revolução das tecnologias de informação”. Para o jurista português, não obstante, foram as concepções de espaço e de tempo que sofreram transformações mais profundas. A ideia de morosidade remonta à modernidade, quando surgiu a ideia de espaço-tempo nacional e dentro dela, a temporalidade judicial, que fixou patamar da duração dos processos. Nas precisas palavras de Boaventura de Souza Santos9: Este espaço-tempo está hoje a ser desestruturado sob a pressão de um espaço-tempo emergente, global e instantâneo, o espaço-tempo electrónico, o ciberespaço. Este espaço-tempo cria ritmos e temporalidades incompatíveis com a temporalidade estatal nacional. Assim, a adoção de novas tecnologias constitui ao mesmo tempo oportunidade e risco. As oportunidades, em termos de gestão, dizem respeito à celeridade e eficácia, mediante automação de tarefas rotineiras (v.g., pautas, distribuição, gestão documental); em termos de democratização de acesso, bases de dados jurídicas até então de difícil ingresso são compartilhadas; quanto aos recursos humanos, espera-se redução de custos – como sucedeu na Noruega, em 10% (dez por cento).10 MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da informática. 2.ed. refundida e actualizada. Coimbra: Almedina, 2006, p. 38 - 41. 7 Por meio da Emenda Constitucional n.o 45/2004. 8 SANTOS, Boaventura de Souza. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação, p.85 - 86. 9 Ibid., p.88. 10 Ibid., p.92. 6 84 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO Os riscos, por seu turno, se manifestam à medida que os mesmos vícios presentes no processo tradicional são incorporados ao processo eletrônico. Como já sinalizado, os anseios sociais vão além da mera digitalização de documentos em papel e a possibilidade de praticar atos processuais com o uso de tecnologias da informação. O momento deve ser visto como de ruptura, rumo a um processo eletrônico célere, econômico e eficaz. Há receio, outrossim, de que o processo eletrônico seja considerado verdadeira panaceia para a morosidade do Judiciário. Ou seja, como se num passe de mágica fossem neutralizados problemas culturais e de ordem estrutural, que demandam investimentos específicos para serem sanados.11 Não obstante, fato é que a adoção de novas tecnologias da informação implica a reformulação dos chamados princípios processuais e até mesmo, na inserção de novos, como se analisará. 3 Princípios processuais: uma visão remodelada a partir das novas tecnologias da informação Já se assinalou que a ideia de processo eletrônico não se limita à mera digitalização de peças processuais. A inovação vai além disso e abrange necessária inter-relação entre as Ciências do Direito (notadamente Processual), da Computação e da Informação. Vale dizer, é imprescindível uma visão interdisciplinar para a exata compreensão dos impactos decorrentes da utilização das novas tecnologias no âmbito processual. A ineficiência do Poder Judiciário é tema caro aos cidadãos. Logo, a Administração da Justiça não pode omitir a perspectiva de otimização que surge no horizonte da utilização das tecnologias computacionais e informacionais. Trata-se, afinal, de proposta que caminha rumo a uma prestação jurisdicional efetiva e em tempo razoável. O tema não é objeto de debate apenas no Brasil. A Associação Internacional de Direito Processual (IAPL) realizou em 2010, na cidade de Pécs – Hungria, o Congresso Eletronic Justice, Present and Future, dedicado ao tema das mudanças no quadro tradicional do Direito Processual Civil decorrentes do uso de tecnologias digitais e da Internet. Naquela oportunidade, juristas de três continentes debateram aspectos nos quais o processo civil pode (e precisa) ser aprimorado.12 Na ocasião, o conferencista brasileiro José Eduardo de Resende Chaves Júnior13, sob o título “O Processo em Rede”, discorreu sobre como doutrina e jurisprudência poderão canalizar a emancipação proporcionada pelas novas tecnologias. Propôs ainda novas linhas para o Direito Processual Civil, com a formulação de novos princípios. ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico..., p.3. Sítio da University of Pécs – Faculty of Law. Disponível em: <http://www.law.pte.hu/hirek/461>. Acesso em: 08 out. 2014. 13 O texto respectivo foi publicado em CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p.15-38. 11 12 85 Artigo 6 3.1 Instrumentalidade e imaterialidade Desde a consolidação da ciência processual, resultante dos esforços de renomados processualistas como Bülow, Goldschmidt, Chiovenda e outros, é assente na doutrina que o processo não é um fim em si próprio. Ou seja, está voltado à pacificação dos conflitos, bem como a realizar seus escopos sociais, políticos e jurídicos. Trata-se, pois, do instrumento por meio do qual tais objetivos podem ser alcançados. Cândido Rangel Dinamarco14, ao desenvolver a ideia de instrumentalidade, afirma que ela está voltada não ao aprimoramento de conceitos e institutos da dogmática processual, mas sim, a tornar a prestação jurisdicional mais sensível ao mundo no qual está inserida. A preocupação com a operatividade e com os resultados é desenvolvida sob quatro aspectos fundamentais: (i) a admissão em juízo; (ii) o modo de ser do processo; (iii) a justiça das decisões; e (iv) sua efetividade. A proposta passa pelo desapego aos formalismos estéreis, ou seja, aqueles cuja observância não traz qualquer finalidade prática, olhos postos na preocupação maior de Chiovenda, para quem “il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire” 15. Com a introdução do Princípio da Imaterialidade, José Eduardo de Resende Chaves Júnior corrobora essa repressão aos formalismos inócuos, salientando que o processo eletrônico permite maior proatividade, no sentido de estimular que doutrina e jurisprudência encontrem o meio mais pragmático e justo para solucionar o caso concreto. 16 Em outras palavras, o princípio revela como o meio eletrônico potencializa e viabiliza a ideia de que a inexistência de técnica processual adequada não deve ser óbice à efetivação de direitos, vez que é dado ao juiz, por imposição constitucional, suprir tais vícios e assegurar a tutela dos direitos materiais.17 Com a imaterialidade não se pretende suprimir regras formais essenciais, como intimações e prazos, por exemplo. Prega-se uma flexibilidade processual, mas condicionada ao workflow do sistema processual eletrônico, de sorte a possibilitar que a reiteração de situações venha a moldar uma concepção mais construtivista e mais democrática de processo. A imaterialidade aproxima noções como processo, procedimento e autos, permitindo que aquilo que hoje muitos denominam de automação procedimental venha, num futuro próximo, a tornar-se processo eletrônico, com todos os recursos e as facilidades inerentes. Com isso será possível evitar (ou ao menos reduzir consideravelmente) discussões puramente formais, que em nada contribuem para um resultado célere e eficaz do processo. Os DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.334. CHIOVENDA, Giuseppe. Dell’azione nascente dal contratto preliminare. Rivista di diritto commerciale, 1911. s.p. Tradução livre: “O processo deve entregar, tanto quanto possível, a quem possui um direito tudo aquilo, e exatamente aquilo, que tem direito de obter”. 16 CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p. 25-27. 17 Vide MARINONI, Luiz Guilherme. O direito de ação na constituição brasileira, p.14. Disponível em: <http://marinoni.adv. br/wp-content/uploads/2010/04/20090909022054Direito_de_acao-1.pdf>. Acesso em: 09 out. 2014. 14 15 86 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO sujeitos processuais estarão ligados entre si por meio da linguagem, o que permite enfatizar as questões que realmente interessam à pacificação do conflito de interesses. Nessa ordem de ideias, tem-se que a interação dialética no meio eletrônico, ao enfatizar a linguagem, permite às partes o pleno exercício do direito de participar da construção da decisão, que tende a ser mais justa e mais consentânea com a realidade social, o que contribui para a efetividade e a celeridade. 3.2 O Contraditório a partir da conexão e da interação Essa nova perspectiva de debate e de participação diz, também, com as novas feições assumidas atualmente pelo princípio do contraditório. Derivado da garantia de igualdade, o contraditório, em sua acepção tradicional, assegura ao demandado o direito de ser formalmente comunicado da existência da demanda para, dentro de prazo razoável, exercer o direito de comparecer e apresentar defesa. Também denominado “bilateralidade da audiência”, exige, sob pena de nulidade, que a parte adversa tenha oportunidade de conhecer as petições e pretensões manifestadas e, querendo, apresentar refutação.18 Para José Rogério Cruz e Tucci, o contraditório é traço distintivo que conota o processo judicial, sendo pressuposto básico para seu desenvolvimento que se desenrole dentro de condições de absoluta paridade entre as partes, isto é, no sentido de que as oportunidades sejam conferidas indistintamente ao autor e ao réu, de forma preordenada e simétrica.19 No Brasil, o contraditório ganhou assento constitucional com a Carta de 1937 (Art. 122, alínea 11), mas restrito ao processo penal, sendo que somente a partir de 1988 foi estendido também para os processos civil e administrativo. Em sua acepção contemporânea, não significa mais apenas a oportunidade de reação ou de evitar posições jurídicas desfavoráveis, para importar em deveres de colaboração dos litigantes e de participação do juiz, ao qual incumbe instalar integral debate judicial acerca das questões versadas no processo.20 Com isso, procura-se impedir que temas não discutidos suficientemente constituam fundamentos da decisão – vale dizer, as denominadas sentenças de terceira via.21 No processo eletrônico, o contraditório sofre influência do que José Eduardo de Resende Chaves Júnior22 denomina “princípio da conexão”, o qual no processo em rede manifesta-se tanto do ponto de vista tecnológico quanto do social, uma vez que conecta sistemas, máquinas e pessoas. A abordagem do princípio se dará sob duas diferentes perspectivas: “reticular e inquisitiva”. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 2.ed. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1951, p.79-81. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia constitucional do contraditório no projeto do CPC (análise e proposta), p.3. Disponível em: <http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-3545.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2014. 20 CABRAL, Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. Revista de Processo, São Paulo, n.126, p.59-64, ago. 2005. 21 Sobre o tema, ver GRADI, Marco. Il Principio del Contradittorio e La Nulittà della Sentenza della “terza via”. Rivista di Diritto Processual, Padova, anno LXV, n.4, p.826-848, lug.ago. 2010. 22 CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p.27-30. 18 19 87 Artigo 6 A conexão reticular é uma espécie de conexão qualificada, que difere daquela simplesmente linear por pressupor uma ampliação de escala. No processo eletrônico, esse caráter reticular somado à desmaterialização dos autos possibilita em tempo real a transmissão do conteúdo de atos processuais, bem como a sua prática. A figura da “vista dos autos fora de cartório” encontra-se superada. A publicidade, que nos autos de papel por vezes consistia em singela presunção, transforma-se em uma realidade efetiva no meio eletrônico. Os diferentes formatos de mídias eletrônicas, que armazenam não apenas texto, mas também som e imagem, permitem romper com a rígida separação entre o mundo processual e aquele das relações sociais. O princípio da escritura é mitigado e cede, pois, espaço para a oralidade, que é incentivada tanto pela viabilidade de realizar audiências, julgamentos e outros atos processuais por videoconferência quanto pela facilidade de gravação, armazenamento e reprodução do aludido ato.23 Como é cediço, a oralidade contribui com a celeridade e com a formação da convicção do julgador – e assim com a justeza das decisões, ainda que por via reflexa. Esse novo contexto implica outra racionalização e organização da produção de provas, visto que a conexão redunda em um processo com característicos inquisitivos (conexão inquisitiva). Como as fronteiras entre os autos e o mundo são cada vez menos evidentes, a busca da verdade se perfaz segundo uma lógica probatória remodelada, o que não afasta a necessidade de regulação dos limites para formação de convicção a partir de fatos públicos e notórios, ou, melhor dizendo, fatos comuns e conectáveis. Os novos contornos da ideia de contraditório visam, também, evitar abusos e procrastinações ardilosamente realizados em seu nome. Isso porque é recorrente que sob tal fundamento as partes formulem requerimentos absolutamente infundados, prejudicando assim, a efetividade do direito daquele que está com a razão.24 Embora constitua garantia fundamental, o direito ao contraditório não é absoluto e precisa de temperamentos. Esse contraditório clássico, linear e fragmentado, ganha em intensidade, autenticidade e verossimilhança quando acrescido da instantaneidade que é marca das novas tecnologias. O meio eletrônico permite não apenas a contradição, mas verdadeira interação, isto é, participação efetiva e em paridade de condições. “O princípio da interação” incrementa, pois, um aspecto substancial de compromisso com a verdade, evitando assim dilações indevidas. Ao mesmo tempo em que a participação das partes é aumentada, com o que o processo ganha em traços democráticos, incrementa-se também a responsabilidade desses partícipes. Não basta narrar os fatos e aguardar a resposta jurisdicional. Nesse novo contexto de interação, o contraditório (possibilidade efetiva de influir na construção da decisão) e a ampla defesa (defesa técnica) serão efetivamente respeitados, uma vez que os contraditores poderão extrair do O Código de Processo Civil admite desde o advento da Lei n.o 11.419/2006, que os atos processuais praticados na presença do juiz sejam armazenados integralmente em meio eletrônico (Art. 169). 24 Vide a seguinte advertência: “Um processo capenga, interminável em sua exasperante morosidade, deve ser reconhecido como ‘devido processo legal’, ao autor que somente depois de vários anos logre uma sentença favorável, enquanto se assegura ao réu, sem direito nem mesmo verossímil, que demanda em procedimento ordinário, o ‘devido processo legal’ com ‘plenitude de defesa’?”. (SILVA, Ovídio A. Baptista. A “plenitude de defesa” no processo civil. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p.154). 23 88 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO meio eletrônico todas as possibilidades de influir na formação do juízo de fato (indicação e produção de provas, além de fatos públicos e notórios) e no juízo de direito, nesse caso, não apenas indicando a norma aplicável, mas, sobretudo, estabelecendo seu conteúdo e alcance. As responsabilidades são maiores também em termos éticos. A partir dessa potencialização da busca da verdade, será reduzida a margem de alegação ou de negação de fatos facilmente verificáveis.25 3.3 Verdade material e intermidialidade A busca pela verdade no Processo Civil enseja o confronto entre dois preceitos fundamentais: de um lado, o aspecto qualitativo (ou a justiça) das decisões e, de outro, a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Contentar-se com a verdade formal, assim compreendida aquela resultante unicamente dos esforços probatórios das partes e da aplicação de regras processuais que envolvem ônus e presunções, é característica de um modelo arcaico de justiça e de magistrado, no qual a doutrina comparava com um mero espectador. A busca pela verdade material (ou real), por seu turno, com a ampliação dos poderes instrutórios conferidos ao juiz acaba por redundar na ordinarização do processo e no desapego às técnicas de sumarização, o que por certo prejudica os ideais de uma justiça célere e efetiva.26 Já se afirmou que o processo eletrônico importa na remodelação da lógica probatória vigente, e que diminui substancialmente a distância entre o processo e o meio no qual ele está inserido. José Eduardo de Resende Chaves Júnior27 acentua que o processo eletrônico é mais do que a simples passagem de um meio de comunicação físico (papel) para outro, agora eletrônico. Afinal, aquilo que denomina “milagre científico da informática” possibilita que a dialeticidade processual se instale a partir de meios que transcendem a linguagem escrita, agregando movimento por meio de sons e de imagens. A essa interação entre diferentes tipos de mídias é que se dá o nome de intermidialidade, muito embora se reconheça que tal conceito ainda se encontra em fase de construção. Partindo-se do pressuposto de que o meio não é neutro, essa nova forma de entrelaçamento que os recursos informáticos permitem entre escrita, imagem e som faz com que o diálogo processual ganhe novos contornos. Acerca dos ganhos que essa nova concepção traz para a sistemática processual, José Eduardo de Resende Chaves Júnior28 destaca que: Essa maior liberdade em relação à escritura enseja, por outro lado, a potencialização do processo como meio, como instrumento de efetivação dos direitos materiais, pois além de aumentar a possibilidade de se aferir a verdade real, sua intermedialidade, isto é, a maior interação entre várias mídias, acaba por deformalizar o CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (Coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p.30. Sobre o tema, numa acepção crítica, ver: SILVA, Ovídio A. Baptista. A “plenitude de defesa” no processo civil. 27 CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Op. cit., p.30-31. 28 CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p. 30-31. 25 26 89 Artigo 6 processo, torná-lo inclusive mais pragmático e menos sujeito a regras rígidas de um único meio. Essa deformalização possibilita de uma maneira mais ressaltada a canalização dos meios e das mídias a benefício dos escopos sociais do processo. Vale dizer, dentro do atual sistema da persuasão racional29, mitigado pela gradativa redução de fronteiras entre os autos e o mundo virtual, o meio eletrônico oferece mecanismos mais percucientes na reconstrução do substrato fático, contribuindo com o acerto dos julgamentos e viabilizando o efetivo cumprimento do dever de motivação das decisões judiciais. Exemplo disso é a facilidade oferecida pelo princípio “conexão inquisitiva”, no sentido de permitir ao próprio magistrado a verificação de fatos acessíveis e conectáveis na rede. Importante advertir, porém, que os aludidos benefícios não serão devidamente aproveitados caso se confirme uma tendência da adoção do processo eletrônico, qual seja: a de que serventuários afetos a funções operacionais dos cartórios e secretarias, em razão da sua automatização, sejam remanejados para atuação em gabinetes, assessorando (quando senão até mesmo substituindo) o magistrado em suas tarefas decisórias. Não se está aqui a retirar a importância da assessoria, sobretudo, na forma apontada por Owen Fiss: a contribuição deve ser canalizada para a assistência em pesquisas e discussões que forcem o magistrado a reexaminar suas premissas. O que não se afigura viável é a delegação da tarefa decisória, o que acarretaria distanciamento entre o responsável pela instrução e aquele que efetivamente decide, não apenas violando o princípio da imediatidade, como também comprometendo a legitimidade da decisão, vez que o poder-dever jurisdicional não é passível de delegação. Imprescindível, pois, que a adoção das novas tecnologias não redunde em fragmentação da tarefa de julgar, mas, ao contrário, possibilite que a maior dialeticidade resulte em verdadeira aproximação do julgador com o conjunto probatório, facilitando o cumprimento do dever de proferir decisões motivadas.30 3.4 Celeridade e economia segundo hiper-realidade e instantaneidade Não basta, porém, que a controvérsia seja resolvida com justiça e manifestada por meio de uma decisão judicial adequadamente fundamentada. Sobretudo no Estado Constitucional, recai sobre o ente estatal o dever de propiciar uma prestação jurisdicional efetiva e em tempo condizente. Tratando especificamente do sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado, Flávia Moreira Guimarães Pessoa o define como “aquele no qual o juiz, de conformidade com seus critérios de entendimento, calcado no raciocínio e na lógica, tendo como base a legislação vigente, com apoio nos elementos existentes nos próprios autos, tendo que, na sentença, explanar sua motivação, decide, com racional liberdade, a demanda proposta”. (PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. O livre convencimento motivado enquanto direito fundamental das partes, p.6. Disponível em: <http://direitoprocessual.org.br/ fileManager/Flvia_Pessoa___O_livre_ convencimento_motivado_enqunto_direito_fundamental_das_partes.doc>. Acesso em: 27 dez. 2014). 30 Sob o contexto da narrativa de Hannah Arendt acerca de Eichmann – burocrata da organização nazista responsável por transportar judeus para a solução final –, o autor norte-americano sustenta que a fragmentação e a compartimentalização de tarefas, típicas da burocracia, implicam isolamento dos agentes, que acabam por desconhecer a abrangência total das atividades da organização. Igualmente, tende a tornar a responsabilidade difusa, transferindo-a do indivíduo (juiz) para a organização (Poder Judiciário), que em regra mostra-se mais amena. A preocupação de Owen Fiss reside no fato de que “[...] a mesma ausência de pensamento, que Arendt encontrou em Eichmann, pode surgir no âmbito judicial”. (FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. Coordenação da tradução: Carlos Alberto de Salles. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.183). 29 90 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO O princípio da eficiência31 da Administração Pública, constante do Artigo 37 da Constituição da República, contempla não apenas a celeridade, como também a economia de recursos estatais despendidos na prestação da jurisdição. Quanto a isso, o processo eletrônico contribui com a redução de custos, por exemplo, com papel e outros insumos (impressoras, etiquetas, capas etc.). No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4.a Região a contenção realizada com tais rubricas já supera o valor investido no desenvolvimento do sistema informatizado, denominado e-Proc.32 O tema da racionalização dos custos se reflete, e de forma positiva, na esfera jurídica dos jurisdicionados. Além da substancial redução de tempo na remessa de feitos entre o primeiro grau para os tribunais, ou mesmo, entre estes e os Tribunais Superiores, a automação processual suprimiu (ou ao menos reduziu) despesas com o porte de remessa e retorno dos autos. Atende-se, com isso, ao princípio da economia, que, segundo a lição de Eduardo Juan Couture33 faz com que, como meio, o processo não exija dispêndios desproporcionais aos bens nele debatidos. Ainda segundo o mesmo princípio, prossegue o processualista uruguaio, é expressão de economia e celeridade a simplificação das formas de debate, com ênfase na oralidade e com documentação concisa.34 Em que pese a relevância conferida por processualistas do gabarito de Chiovenda e Cappelletti à oralidade, a tradição processual deu prevalência à escrituração. O processo eletrônico constitui, pois, oportunidade de restabelecer a importância que a oralidade merece – tanto em termos de aproximação da verdade real quanto de celeridade –, uma vez que a tecnologia permite suprimir distâncias e realizar audiências e julgamentos por meio de videoconferência, sem prejuízo do armazenamento integral em áudio e vídeo dos referidos atos processuais. A esse fenômeno José Eduardo de Resende Chaves Júnior35 dá o nome de hiper-realidade, já que traz dinamicidade ao que até então se encontrava cristalizado no meio físico, ou seja, em papel. A inovação vai além do que a dogmática atual já permite (por exemplo, a juntada de mídias eletrônicas aos autos físicos), pois caracteriza plena integração entre atos postulatórios da parte, conjunto probatório, atos decisórios, dentre outros. Ademais, cabe lembrar que essa hiper-realidade está disponível em tempo integral para todos os participantes do processo, seja autor, réu, juiz, representante do Ministério Público ou auxiliares. Muitos atos de secretaria, que até então demandavam equipe capacitada, são realizados pelo próprio partícipe, de forma instantânea, e sem a necessidade de qualquer outra “O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.78-80). 32 Ainda mais expressiva economia de recursos públicos haveria, evidentemente, se cada Tribunal não precisasse empregar recursos no desenvolvimento de sistemas próprios. Sem prejuízo da iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em implementar o Processo Judicial Eletrônico (PJe), cuja proposta é transformar-se em solução única para a automação do Poder Judiciário em âmbito nacional, fato é que os recursos já foram despendidos no desenvolvimento de sistemas locais, cuja obsolescência já se afigura iminente. 33 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2.ed. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1951, p. 84-85. 34 Id. 35 CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p.31-33. 31 91 Artigo 6 intervenção. Questões estritamente burocráticas, como juntada de documentos e numeração de folhas, ocorrem de forma instantânea no fluxo do processo eletrônico, o que evidencia seu potencial em corroborar com a razoável duração do processo. 3.5 Efetividade e desterritorialização Quando se refere à razoável duração, inexiste limitação ao processo ou fase cognitiva. Ao contrário, só há efetividade quando o Poder Judiciário faz cumprir com celeridade suas próprias decisões. Segundo Cândido Rangel Dinamarco36, o vocábulo “efetividade” representa a aptidão do processo para pacificar conflitos observando critérios de justiça e propiciando a universalidade da jurisdição com todas as garantias que lhe são inerentes. Ou seja, compreende a efetiva entrega do bem da vida ao demandante que tem razão. Questões geográficas que refletem em regras sobre competência territorial, não raras vezes constituíam empecilho à efetividade e à razoável duração do processo, ao passo que exigiam a expedição de cartas precatórias para cumprimento em comarcas distintas, muitas vezes, longínquas neste Brasil de dimensões continentais. A automação do Poder Judiciário já trouxe significativas inovações a esse respeito, como sucede, por exemplo, com a citação eletrônica ou mesmo com os tão conhecidos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros. A ideia de desterritorialização vai além da transposição de circunscrições jurisdicionais para permitir a plena fluência da efetividade dos direitos materiais, por meio de verdadeira extensão da longa manus estatal. Questão problemática, há de se reconhecer, é a prática de atos processuais em diferentes países ou mesmo, a remessa de patrimônio à margem da contabilização oficial, o que já suscita movimento doutrinário rumo à internacionalização do Direito material virtual.37 A integração torna mais célere e eficaz a prestação jurisdicional. Havendo plena interoperabilidade, a declinação de competência ocorrerá de forma natural, com o simples envio do feito ao Juízo competente, com ciência às partes e demais interessados, prescindindo de despesas com logística e sem que haja perda do histórico de tramitação, ou seja, permitindo total aproveitamento dos atos processuais já realizados – que possam ser convalidados, nos termos do Código de Processo Civil. Em termos de comunicação entre Juízo de Origem e Tribunal, a tendência é de que haverá obsolescência das informações prestadas ao Relator em Agravo de Instrumento. Como o Tribunal terá acesso à íntegra dos autos na origem, perde a razão de ser o pedido de informações. Sem prejuízo de eliminar o tempo morto hoje observado nas trocas de ofícios em papel, a medida liberará o tempo do magistrado para atuar em atividades verdadeiramente produtivas ao invés dessas de natureza burocrática. 36 37 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 375. CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico, p.36-37. 92 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO Haverá de ser repensada até mesmo a necessidade de manutenção da regra de delegação de competência prevista no Artigo 109, parágrafo terceiro da Constituição Federal, segundo a qual “serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal”. O intuito dessa disposição é facilitar o acesso à justiça, sobretudo, o comparecimento das partes e testemunhas em juízo. Ao se considerar, porém, a tramitação em meio eletrônico e a possibilidade de realização de audiências por videoconferência38, parece mais acertada a preferência pelo Juízo Federal natural, que, além de melhor aparelhado, possui maior contato e domínio da matéria. Evidente que, com isso, os Juízos Estaduais poderiam concentrar esforços e recursos nos feitos de sua competência. Enfim, a plena interoperabilidade entre todas as unidades do Poder Judiciário prestigiará os princípios da celeridade e da economia, que no meio eletrônico manifestam-se sob a ideia de instantaneidade. Evidente que a integração propiciará trocas de informações mais confiáveis e mais ágeis do que aquelas verificadas atualmente entre sistemas com características distintas e sem possibilidade de interconexão, ou mesmo, com relação a feitos que ainda tramitam em meio físico. Manifesta, ademais, a redução de distâncias (desterritorialização) e de entraves ao pleno acesso à Justiça, contribuindo assim, com a utilização ótima dos recursos disponíveis e com a ampliação da efetividade da tutela jurisdicional. Digno de destaque, também, é o acordo firmado entre as Cortes Judiciárias da União Sul-Americana de Nações (UNASUL), visando estabelecer canais de cooperação entre os países participantes para permitir o intercâmbio de informações, a uniformidade de procedimentos como extradições, homologação e cumprimento de sentenças, cartas rogatórias, entre outros. Evidente que o uso da Tecnologia da Informação é requisito essencial para tal integração.39 4 Considerações finais A nova lógica processual deve permitir o máximo desenvolvimento dos princípios que emergem no meio eletrônico, como é o caso dos princípios da imaterialidade, conexão, interação, intermidialidade, hiper-realidade, instantaneidade e desterritorialização. Deve ser prestigiada a oralidade, inclusive com a realização de atos processuais por videoconferência, o que permite repensar a competência federal delegada à Justiça Estadual (CRFB, art. 109, § 3.º). A realização de audiências por videoconferência é incentivada na Europa, sobretudo para colheita transfronteiriça de provas. Nos Estados Unidos, é amplamente empregada nas Cortes Federais, desde que envolva número não excessivo de participantes. (LUPOI, Michele Angelo. Enforcement of a claim with the support of the new information technology: protection of the creditor and the debtor. In: Eletronic Justice, Present and Future, 2010. Pécs – Hungria: [s.n.], 2010, p. 25. Disponível em: <http://unibo. academia.edu/MicheleAngeloLupoi/Papers/ 381006/Enforcement_of_a_claim_with_the_support_of_the_new_information_technology>. Acesso em: 17 nov. 2014). 39 Entre as proposições constantes da Reunião de Cúpula, realizada em Cuenca-Equador, consta a criação de um Conselho Consultivo de Justiça e de um Centro Internacional de Conciliação, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Mediação e Arbitragem. VI cúpula de poderes judiciários da UNASUL. Disponível em: <www.stj.jus.br/unasul>. Acesso em: 13 out. 2014). 38 93 Artigo 6 A plena interoperabilidade torna obsoletas a formação de instrumento na interposição de agravo e as informações prestadas pelo juízo originário ao tribunal. Solução já em funcionamento na 4.ª Região da Justiça Federal fornece ao Tribunal acesso ao inteiro teor dos autos originários, reduzindo o tempo gasto com comunicações desnecessárias. Em suma, importante perceber que o processo eletrônico traz potencial muito maior do que a mera automação do processo tradicional. Por meio dele é possível resgatar e maximizar a oralidade, com todos os consectários benéficos, sobretudo, aqueles respeitantes à reconstrução da verdade real, da imediatidade e concentração de atos, que certamente redundará em qualidade de decisões e em celeridade. Os benefícios que a tecnologia propicia precisam ser canalizados de sorte a transformar o processo eletrônico em terreno de dialeticidade fértil e leal, com ampla possibilidade de produção de provas e de participação na construção de decisões, sem olvidar da integração dos mecanismos capazes de lhes imprimir efetividade. Referências ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico: a informatização judicial no Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. CABRAL, Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. Revista de Processo, São Paulo, n.126, p.59-81, ago. 2005. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, v.1. CHAVES, José Eduardo de Resende Júnior (coord.). Comentários à lei do processo eletrônico. São Paulo: LTr, 2010. CHIOVENDA, Giuseppe. Dell’azione nascente dal contratto preliminare. Rivista di diritto commerciale, 1911. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 2.ed. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1951. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia constitucional do contraditório no projeto do CPC (análise e proposta). Disponível em: <http://www.iabnacional.org.br/IMG/ pdf/doc-3545.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2014. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2008. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. Coordenação da tradução: Carlos Alberto de Salles. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.163-203. GARCIA, Sérgio Renato Tejada. Processo eletrônico na Justiça Federal. In: Encontro Íbero Latino Americano de Governo Eletrônico. 8, 2009, Florianópolis. Disponível em: <http://pt.scribd.com/ doc/23840613/Processo-eletronico-na-Justica-Federal>. Acesso em: 15 nov. 2014. GRADI, Marco. Il Principio del Contradittorio e La Nulittà della Sentenza della “terza via”. Rivista di Diritto Processual, Padova, anno LXV, n.4, p. 826- 848, lug. ag. 2010. LUPOI, Michele Angelo. Enforcement of a claim with the support of the new information technology: protection of the creditor and the debtor. In: Eletronic Justice, Present and Future, 2010. Pécs – Hungria: [s.n.], 2010. Disponível em: <http://unibo.academia.edu/MicheleAngeloLupoi/Papers/381006/ 94 PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: UMA VISÃO REMODELADA A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO Enforcement_of_a_claim_with_the_support_of_the_new_information_technology>. Acesso em: 17 nov. 2014. MARINONI, Luiz Guilherme. O direito de ação na constituição brasileira. Disponível em: <http://marinoni.adv.br/wp-content/uploads/2010/04/20090909022054Direito_ de_acao-1.pdf>. Acesso em: 09 out. 2014. MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da informática. 2.ed. refundida e actualizada. Coimbra: Almedina, 2006. PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. O livre convencimento motivado enquanto direito fundamental das partes. Disponível em: <http://direitoprocessual.org.br/ fileManager/Flvia_ Pessoa___O_livre_convencimento_motivado_enqunto_direito_fundamental_das_partes.doc>. Acesso em: 27 dez. 2014. SANTOS, Boaventura de Souza. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação. Sociologias, Porto Alegre, ano 7, n.13, p.82-109, jan./jun. 2005. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/5505/3136>. Acesso em: 26 set. 2014. SILVA, Ovídio A. Baptista. A “plenitude de defesa” no processo civil. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p.149-165. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Brasil). VI cúpula de poderes judiciários da Unasul. Disponível em: <www.stj.jus.br/unasul>. Acesso em: 13 out. 2014. 95 Artigo 7 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR Kelly Pauline Baran1 Resumo: Aborda-se o direito ao trabalho como direito fundamental com consequência de eficácia indireta em relações concretas e não somente dependente de ações afirmativas e, desta forma, propõe-se a possibilidade de flexibilizar o direito potestativo do empregador nas dispensas sem justa causa, com a finalidade de evitar condutas abusivas. Palavras-chave: direitos fundamentais; direito ao trabalho; direito potestativo de dispensa; dispensas sem justa causa; eficácia dos direitos fundamentais. Abstract: The right to work is approached as a fundamental right with consequence of indirect efficacy in concrete relations and not only dependent of affirmative action, and as such, the possibility of flexibilizing the potestative right of the employer in just cause dismissals is proposed, with the goal of avoiding abusive conduct. Key words: fundamental rights; right to work; potestative right to exemption; dismissals without just cause; effectiveness of fundamental rights. O Poder potestativo do empregador nas dispensas arbitrárias no ordenamento jurídico brasileiro O empregador tem poder de direção sobre seus empregados que, por sua vez, têm o dever de obediência, podendo o empregador dirigir, fiscalizar e controlar a prestação de serviços e, inclusive, punir os seus subordinados. Diante desse poder de direção, o empregador pode comandar, escolher e controlar os meios de produção em sua empresa. O poder de direção se desdobra em três modos: o poder diretivo, que se “constitui na capacidade do empregador em dar conteúdo concreto à atividade do trabalhador, visando os objetivos da empresa”; o poder disciplinar, que é o poder de impor punições; e o poder hierárquico ou de organização, podendo o empregador determinar a estrutura econômica e técnica de sua empresa (CASSAR, 2008. p. 266). Esses poderes decorrem da celebração do contrato de trabalho entre empregador e empregado, tendo em vista que o primeiro tem sob sua responsabilidade a organização e a disciplina do trabalho, características próprias do instituto da subordinação jurídica. Assessora de Gabinete no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; Mestranda em Governança e Políticas Públicas pela UTFPR; Especialista em Assessoramento na Jurisdição Trabalhista pela Escola Judicial do TRT 9ª Região; professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. 1 96 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR Ressalta-se que o poder disciplinar tem por finalidade a manutenção da ordem no ambiente de trabalho e se traduz na capacidade do empregador de aplicar sanções, que podem ser: advertência, suspensão e dispensa por justa causa. Nesse sentido, não se olvida que, de acordo com o direito brasileiro, o empregador detém o poder potestativo de dispensa do seu empregado. Potestativo é aquele direito que não depende da anuência do destinatário. É uma espécie de direito subjetivo. O direito de rescindir de forma unilateral o contrato de trabalho enquadra-se, pois, nesse conceito.(DALLEGRAVE NETO, 2000. p 165). Diante desse esclarecimento de Dallegrave Neto (2000, p. 165), tem-se que o termo “pedido de demissão” é errado, na medida em que o empregado não pede a demissão ao empregador, este simplesmente se sujeita a vontade do empregado de demitir-se, sem necessidade de anuência por parte do empregador, ou seja, ambas as partes possuem o direito potestativo de encerrar o contrato de trabalho. Há quem defenda que, mesmo sendo a rescisão unilateral um direito subjetivo do tipo potestativo, o agente ao incorrer em abuso de direito torna o ato nulo e sujeito a reparação dos prejuízos eventualmente causados à parte prejudicada. Dessa forma, leciona Dallegrave Neto (2000, p. 165) que “(...) o empregador que despedir o empregado sem que esteja presente em seu ato interesse legítimo subjacente, provocará abuso de direito de resilição unilateral”. Esclarece ainda o autor que essa dispensa sem interesse legítimo não se confunde com a dispensa sem justa causa. Dessa forma, o direito potestativo não é absoluto, estando sujeito a limitações. Uma dessas limitações pode ser encontrada no sistema da Convenção nº 158 da OIT. Ressalta Wandelli (2004, p. 333-337), que a proibição da despedida abusiva não é antagônica ao reconhecimento do direito de despedir como potestativo, eis que, como salientado, este não é absoluto. Além da abusividade inerente ao ato de dispensa arbitrária, há casos em que o direito potestativo do empregador é ainda mais abusivo, quando não é exercido de forma legítima ou quando exercido em desacordo com as leis. (WANDELLI, 2004. p. 340) Dentro desses limites, o empregador tem o direito potestativo de dispensar seus empregados, no entanto, salientando que “em nome da liberdade e autonomia da vontade estimulamos o desemprego, a miséria e a fome”. (MANUS, 1996. p. 42) Em relação ao direito potestativo do empregador, Manus (1996, p. 42) defende a ideia de que o empregado teria direito ao trabalho, decorrente do dever, socialmente imposto a todos, de trabalhar. O direito ao posto de trabalho é uma reivindicação dos trabalhadores, condizente com suas necessidades, bem como uma reação ao entendimento de que é dada absoluta liberdade ao empregador de terminar o contrato de trabalho quando assim o quiser, estimulado pela conduta liberal do Estado, que acentua a ideia de autonomia da vontade. A Constituição Federal de 1988 consagrou o valor do trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República, isso quer dizer que o Estado existe em função da pessoa humana, sendo sua finalidade precípua, não podendo ser utilizado como mero objeto para alcançar o 97 Artigo 7 querer alheio. Nesse diapasão, a empresa não pode se desenvolver desvinculada de sua função social de valorizar o trabalho e a dignidade humana. (RESENDE, 2010. p. 91) Gomes (2008, p. 51) afirma que o acesso ao trabalho é um direito fundamental, são suas as palavras: Vive-se numa sociedade de trabalho e sem este não há possibilidade de ser satisfeito a maioria dos cidadãos o direito à vida com dignidade. Desse modo, o alcance dos apontados objetivos depende da atuação positiva, séria e transparente do Estado, de promoção, incentivo e planejamento, implantação de sérias políticas públicas, para se garantir e realizar o direito fundamental de acesso ao trabalho, os direitos dos empregados, além de se resguardar a manutenção das relações de emprego contra as despedidas arbitrárias, decorrendo daí a retaguarda de próprio regime democrático. Para promoção da dignidade humana, faz-se necessário facilitar o acesso ao trabalho e, também, tornar efetiva a garantia à manutenção do emprego adquirido. No ordenamento vigente, assegura-se ao empregado somente o direito a receber uma indenização, o aviso prévio e outras verbas rescisórias. O mais importante que é manter o emprego, continua no arbítrio do empregador. Disso resulta insegurança ao empregado, refletindo na sua vida familiar e pessoal. (GOMES, 2008. p. 59) Defende ainda Gomes (2008, p. 60) que não é possível o exercício de direito potestativo pelo empregador, diante do disposto nos artigos 1º, inciso III e 170 da Constituição da República, que estabelecem a dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem constitucional e objetivo da ordem econômica, para que se compatibilize valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O direito potestativo estaria, para a referida autora, incrustado na cultura brasileira, “ainda submetida aos reflexos de um sistema escravagista que perdurou, institucionalmente, até o ano de 1988”. Wandelli (2004, p. 88) ensina que todos os sistemas produzem vítimas, mas que não proporciona critério para afirmar que a negatividade proporcionada pela vítima seja produto de uma injustiça. Afirma o autor que isso é denominado “banalidade do mal”. Esclarece que o tema da banalização da despedida injusta se baseia no pensamento de Hannah Arendt, no que tange à banalização do mal no regime totalitarista nazista. Pretende o autor explicar a simplicidade envolvida na proibição da dispensa arbitrária e, também, “a brutalidade da injustiça e os riscos que sua não coibição encerra” e o quanto isso se encontra institucionalizado e aceito plenamente pela sociedade. (WANDELLI, 2004. p. 90) Questiona Wandelli (2004, p. 92) se o próprio sistema estabelece os critérios necessários para a proibição da dispensa arbitrária, e, nesse sentido, constata-se um silêncio da doutrina e jurisprudência a tal respeito. Afirma se tratar do “tema da descartabilidade das pessoas trabalhadoras pelo sistema, refletindo-se no interior do próprio sistema jurídico”. A banalização da 98 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR dispensa injusta seria o processo de silenciamento das injustiças que se tornaram visíveis dentro do sistema. Também Suguimatsu (2008, p. 178) defende a existência da banalização da dispensa sem justa causa, nos seguintes termos: O contexto atual – de um modelo econômico precarizante, inspirado em ideias neoliberais – denuncia verdadeira banalização da despedida injusta, oque permite desencadear um processo de “vitimização do trabalhador” pelo abuso de direito do empregador. O predominante silêncio da jurisprudência e da doutrina trabalhistas quanto à coibição dessa forma de despedida reforça essa banalização (...) A banalização envolve a diminuição da indignação diante de injustiças e, também, acaba por mobilizar pessoas a servirem na execução, tendo em vista que retira o lado trágico da injustiça. Dessa forma, um sistema que é extremamente injusto e desigual se passa por justo e serve de modelo que as empresas seguem. (WANDELLI, 2004. p. 95) Nessa mesma linha, os métodos pessoais de cada pessoa de tolerar o sofrimento no emprego, diante das pressões constantes por mais produtividade e diante das ameaças constantes de desemprego ou inadequação, produzem uma negação do sofrimento próprio e, consequentemente, do sofrimento alheio, o que gera uma tolerância e insensibilidade diante das injustiças que ocorrem no meio laboral. Essa insensibilidade acaba se tornando necessária para suportar as injustiças institucionalizadas pelas empresas. (WANDELLI, 2004. p. 100). A ameaça constante de demissão e de precarização das relações de emprego gera medo, o que reforça o ciclo de aceitação e ausência de indignação ante as injustiças, como o aumento do ritmo e a geração de condições insatisfatórias de trabalho, fazendo com que os empregados neguem seu próprio sofrimento como forma de sobrevivência no emprego. Assim, concluindo suas ilações sobre o assunto, Wandelli (2004, p. 125) destaca que, se o trabalho, mesmo que seja alienado, é a principal fonte de suporte de uma cidadania efetiva, o ato de rompimento da relação de emprego por ato do empregador é ainda mais relevante para um universo jurídico em que se tem constitucionalmente assegurados direitos fundamentais, do que a doutrina que concebe a dispensa apenas tendo em vista a existência ou não do poder patronal de dispensar. Deve-se atentar que a relação empregatícia não é efêmera, tem uma pretensão de perdurar no tempo. O contrato de trabalho é, portanto, um contrato de trato sucessivo, que pressupõe uma vinculação que se prolonga. Inicialmente essa questão era vista com ressalvas, diante da possibilidade de se entender o contrato de trabalho como uma forma de escravidão. Mais tarde, no entanto, a questão se inverteu, o perigo real passou a ser a insegurança no emprego, a estabilidade e não mais o risco de servidão, já que o desejo de segurança é um traço típico do homem contemporâneo expressado segurança social no século XX. (RODRIGUEZ, 2000. p. 239) 99 Artigo 7 Rodriguez (2000, p. 240) alerta para o fato de que tudo aquilo que contribui para a conservação da fonte de trabalho é um benefício para o trabalhador, para empresa e para a sociedade como um todo, pois aumenta o lucro e melhora o clima social das relações entre as partes. O trabalhador tem uma preocupação muito grande com sua permanência no trabalho, com relação à sua estabilidade, pois a privação do trabalho significa, para a maioria, a privação de sua fonte de renda alimentar. Dessa forma, o trabalhador deseja que sua relação de trabalho tenha continuidade indefinida, por ser meio de sobrevivência sua e de sua família, e por proporcionar filiação à Previdência social e gozar dos benefícios oferecidos e para efeitos de aposentadoria. Martins (2000, p. 130) leciona que “a manutenção do contrato de trabalho é, até mesmo, questão social do trabalhador, de subsistência”, de modo que: Há necessidade da continuidade do contrato de trabalho para se interpretar sistematicamente os artigos 6º, 170 e 193 da Constituição. Não se trata apenas da garantia de emprego, do já conquistado, mas de que todos tenham a possibilidade de ter um emprego, num sentido amplo. O inciso IV, do artigo 7º da Lei Magna, ao tratar do salário mínimo, dispõe que este é destinado a atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Daí por que é preciso a continuidade da relação laboral como forma de subsistência do obreiro, de assegurar seu sustento próprio e também o de sua família. Traz a continuidade do contrato de trabalho a segurança econômica ao empregado, que pode contar com o pagamento de salário no curso do tempo e assumir prestações para o sustento de sua família. Com as lições do autor, conclui-se que é de suma importância a continuidade do contrato de trabalho, tendo em vista ser necessária para que o empregado tenha uma segurança mínima, em sua vida e em seus gastos, a segurança de estar empregado e assim se manter ao longo do tempo, desde que cumpra suas funções e cumpra o contrato de trabalho. Com a segurança do trabalhador em seu emprego, este passará a trabalhar mais tranquilo, e o empregador, ao longo do tempo, passa a contar com empregados cada vez mais experientes, conhecedores das técnicas da empresa e já treinados, não havendo necessidades de gastos pelo empregador com testes e treinamento de novas pessoas. Prosseguindo em sua incursão sobre o assunto, destaca Martins (2000, p. 138): É desejável que o empregado permaneça no emprego até quando for possível, enquanto a empresa existir, pelas questões sociais que encerra. O desempregado também não paga contribuições à Previdência Social, tendo o Estado de despender recursos adicionais para sustentá-lo com base no seguro-desemprego, criando uma situação social, pois os ativos devem sustentar os inativos. Não compra o desempregado produtos, sendo que as empresas deixam de vendê-los e podem também dispensar seus empregados por falta de pedidos. 100 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR Assim, a manutenção do emprego, para o autor, é uma questão importante não só para o empregado, mas também para toda a sociedade. Isso ocorre, pois o Estado deixa de ter gastos com as pessoas desempregadas, que não contribuem para a Previdência Social, mas de seus benefícios desfrutam, e mantém a saúde do mercado, tendo em vista que, quanto mais pessoas empregadas houver, mais consumidores comprarão os produtos das empresas, e, consequentemente, haverá um maior consumo de seus produtos. Desenvolvendo essa temática, Silva (1999, p. 146) aponta a posição doutrinária unânime em relação à importância do princípio da continuidade da relação de emprego, que tutela a tendência de permanência do contrato de trabalho: Toda a doutrina está de acordo quanto à grande importância da continuidade, seja do ponto de vista jurídico ou do econômico-social. Ela é benéfica para ambos os sujeitos da relação empregatícia: para o trabalhador porque lhe proporciona segurança econômica, pois, como sabe que o contrato e, com ele, a consequente percepção de salário, durará, pode gozar de alguma tranquilidade quanto ao sustento seu e de sua família, assim como à permanência no ambiente de trabalho e no convívio com os seus colegas; ao empregador porque lhe possibilita dispor d e mão de obra experimentada, evitando-lhe trabalho e despesas com recrutamento de novos empregados, o ensino de ofícios a este, formação profissional, treinamento (...). Observa-se que diante dos benefícios trazidos por um contrato duradouro, algumas empresas atribuem um prêmio por fidelidade ou antiguidade aos empregados que estão a um longo tempo no serviço. A antiguidade é uma consequência importante do princípio da continuidade. É nela que a continuidade se concretiza. É a antiguidade a duração do serviço prestado a determinada empresa, configura-se em uma circunstância de fato. (SILVA, 1999. p. 158) Araújo (2003, p. 189) afirma tratar-se de um princípio universal do Direito do Trabalho, em razão do qual a regra é a celebração entre as partes de um contrato por prazo indeterminado, que trazem uma perspectiva de “continuidade, de inserção e de possibilidade de profissionalização do trabalhador”. Importante ponderação a respeito do tema faz Araújo (2003, p. 190), nos seguintes termos: Observe-se que o contrato de trabalho tem, como uma de suas características, o trato sucessivo, ou seja, não se esgotar em prestação única. E a continuidade das prestações das partes dá ensejo a uma situação de superioridade que um sujeito detém em relação ao outro, caracterizadora do poder diretivo do empregador (...) Ademais, a continuidade da relação jurídica atende aos postulados universais consagrados pelo Direito Internacional: o de direito ao emprego, o de dignidade do trabalhador e o de segurança. 101 Artigo 7 Acrescente-se que o empregador também é beneficiado com a celebração de contrato sem determinação de prazo. O profissional mais antigo tende a produzir melhor e em maior quantidade. Por sua vez, a permanência no emprego conduz à formação de laços de ordem pessoal, capazes de atingir patamares mais amistosos nas diversas interrelações que se estabelecem no interior da empresa, entre empregado e empregador, entre os trabalhadores e entre esses e os representantes sindicais ou de comitês. Constata-se que o principal fundamento do princípio da continuidade da relação de emprego é a proteção do empregado, tendo em vista que este depende de seu emprego para viver com dignidade e segurança, e tendo em vista que a indefinição de prazo traz benefícios para o empregado, para o empregador e para a sociedade como um todo. O Direito ao trabalho enquanto direito fundamental Direitos humanos são “o conjunto de direitos que torna possível a existência da pessoa humana e seu pleno desenvolvimento” Seu papel é preservar a dignidade humana e torná-la valor supremo da vida social. (CORREA, 2010. p. 29) Para Vecchi (2009, p 149), os direitos humanos são marcados pela historicidade, se configurando como: (...) direitos históricos, fruto de lutas e conquistas da humanidade na busca pelo reconhecimento e proteção da pessoa humana em todas as situações em que possam estar presentes seja a opressão, seja a exclusão, o medo ou a discriminação, enfim, todas as formas e maneiras de vilipêndio ao ser humano. Piovesan (2010, p. 04) leciona que os direitos humanos são reivindicações morais e, nessa qualidade, “nascem quando devem e podem nascer”. Destaca a autora a historicidade dos referidos direitos e sua concepção contemporânea, fruto do movimento no sentido de internacionalizar os direitos humanos, surgido no pós guerra como resposta às atrocidades do nazismo, que foi introduzida pela Declaração Universal de 1948 e confirmada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993. No contexto de pós-guerra houve um esforço para reconstruir o valor da pessoa humana enquanto fonte do direito e tornar os direitos humanos “como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional”. Tendo em vista ser questão de interesse internacional, fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deveria ficar restringida ao domínio do Estado. (PIOVESAN, 2010. p. 04) Pode-se diferenciar o termo direitos humanos de direitos fundamentais, tendo em vista estarem ou não em uma ordem constitucional. Assim, diz-se que os direitos humanos são inalienáveis, tendo sua origem na natureza humana, não estando adstritos a uma ordem constitucional. 102 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR E, por sua vez, os direitos fundamentais seriam aqueles direitos humanos positivados, em consonância comum a determinada ordem constitucional. (VECCHI, 2009. p. 151) Portanto, direitos humanos são aqueles direitos históricos, aquelas reivindicações morais, que buscam a proteção da pessoa humana e a promoção de sua dignidade, fruto das lutas da humanidade em busca de proteção da pessoa humana pelo simples fato de sua condição de pessoa humana. Concluindo suas ilações sobre a questão conceitual dos direitos humanos, afirma Vecchi (2009, p. 156): “(...) os direitos humanos são históricos, são exigências éticas, estão abertos à historicidade e são pré-positivos, embora busquem positivação nos ordenamentos jurídicos, bem como que são condição de legitimidade dos ordenamentos estatais (...)”. A concepção contemporânea dos direitos humanos é marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos. Os direitos humanos seriam universais, pois a condição de pessoa humana é o único requisito para ser titular desses direitos e todas as pessoas possuem dignidade inerente, são dotadas de valor intrínseco. Seriam, ainda, indivisíveis, tendo em vista que são interdependentes. Assim, quando um dos direitos econômicos, sociais e culturais é violado, os direitos civis e políticos também o são e vice-versa. No entanto, Aranha (2010, p. 14) questiona até que ponto é possível afirmar que os direitos humanos são universais sem implicar imposição unilateral da sociedade ocidental. O Direito, ao longo da história, esteve ao lado do mais forte. Assim, o direito seria um instrumento para disfarçar a relação entre o mais forte e o mais fraco, não sendo seu fundamento, portanto, a dignidade, mas sim a dominação. Dessa forma, os direitos humanos buscam subverter a lógica acima descrita, para superar os mecanismos de dominação. Busca-se defender de forma ostensiva os mais fracos. Enquanto a dominação é fundamento do Direito, a dignidade é fundamento dos direitos humanos. A afirmação dos direitos humanos fundamentais foi reforçada no plano internacional com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Seu artigo XXIII é de especial relevância ao tema ora em estudo, tendo em vista estabelecer que: “todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego (...)”.(SUSSEKIND, 2010. p. 59-60) Os direitos fundamentais se encontram em constante processo de transformação. A teoria dimensional – de no mínimo três dimensões, até cinco dimensões - dos direitos humanos fundamentais aponta para sua cumulatividade e complementaridade, mas também para sua unidade e indivisibilidade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, consagrou a íntima vinculação entre Constituição, Estado de Direito e direitos fundamentais ao estabelecer, em seu artigo 16, que uma sociedade em que a garantia dos direitos não fosse assegurada e a separação dos poderes não fosse determinada, seria uma sociedade sem Constituição. Assim, “os direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da definição da forma de Estado, do sistema de governo 103 Artigo 7 e da organização do poder, a essência do Estado constitucional”. (SARLET, 2007. p. 70) A questão dos direitos humanos no constitucionalismo do Brasil foi tratada pela primeira vez com a devida relevância na Constituição de 1988, que trouxe algumas inovações quanto ao tema. Uma das inovações trazidas pela Constituição de 1988 foi a posição dos direitos fundamentais em seu texto, que estão expostos logo após o preâmbulo e os princípios fundamentais, o que é mais lógico, tendo em vista que os direitos fundamentais se perfazem em parâmetro hermenêutico e são os valores superiores da ordem constitucional e jurídica. (SARLET, 2007. p. 79) Outra inovação é a terminologia utilizada, substituindo o termo “direitos e garantias individuais” por “direitos e garantias fundamentais”, e, ainda, a reserva de capítulo próprio para tratar desses direitos. Sarlet (2007, p. 79) aduz que, possivelmente, a maior inovação é a disposição, no artigo 5º, § 1º da Constituição, de que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, deixando de ser normas meramente programáticas. Além disso, a inclusão desses direitos no rol de cláusulas pétreas, digna de nota. Na divisão clássica dos direitos fundamentais, portanto, os direitos defesa, na acepção de Robert Alexy, requerem uma abstenção do Estado frente à liberdade dos indivíduos, enquanto que os direitos prestacionais, assim denominados os direitos sociais, requerem a prática de atos concretos por parte do Poder Público. Entretanto, Correia vislumbra um problema de eficácia das normas no que diz respeito à essa tradicional divisão, enfatizando que: A discussão acerca da efetividade dos direitos fundamentais sociais suscita duas ordens de questões. A primeira se circunscreve ao vácuo produzido nesta seara em razão de omissões legislativas e à dificuldade de combatê-la por meio dos instrumentos jurídicos disponíveis (mandado de injunção, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental). A segunda se refere à problemática encontrada na imposição judicial, ao administrador público, de obrigações tendentes a efetivar direitos fundamentais sociais.(CORREIA, 2013. P. 04) Assim, a concretização dos direitos ainda denominados tradicionalmente como prestacionais, além dos limites jurídicos impostos pelo princípio da separação dos poderes e pela discricionariedade administrativa, envolve problemas de natureza econômica que não se fazem presentes de maneira tão acentuada nos direitos de defesa. Wandelli ensina, porém, que nem toda necessidade fundamental se reveste de natureza de direito fundamental, ou seja, nem só de necessidades básicas vivem os direitos fundamentais, em resumo. Conclui-se, por tais razões, que a) nem todas as necessidades específicas podem ser imediatamente transladadas para o discurso jurídico na forma de direitos subjetivos, ao passo que 104 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR b) nem todos os direitos fundamentais são expressões diretas de necessidades. Mas c) a normatividade jurídica se submete a um marco geral de satisfação ótima das necessidades. Bem assim, como consequência da assertiva anterior, d) uma necessidade que corresponda aos critérios já definidos atua como fundamento, prima facie, de sua exigibilidade jurídica, transferindo a carga argumentativa para a sua não exigibilidade jurídica. A par disso, e) embora nem todos os direitos fundamentais se reportem diretamente a necessidades, quando este for o caso, como se dá no direito do trabalho, a normatividade das necessidades preenche materialmente os direitos fundamentais que lhe dizem respeito. (WANDELLI, 2012. p. 136-137) Assim, Wandelli (2012, p. 235) defende que não se deve reduzir o papel fundamentador das necessidades nos chamados direitos sociais. Aduz que os direitos econômicos, sociais, culturais são alvo de restrições promovidas por formulações teóricas, em contrapartida, cada vez mais contestadas, que lhes negam a aptidão para a produção de efeitos jurídicos mediante incidência direta sobre as situações concretas, O autor ainda destaca que o direito ao trabalho se constitui como um direito fundamental como um todo, pois reflete um conjunto de posições jurídicas definitivas e adscriptas a um dispositivo de direito fundamental e relacionadas entre si. Isso ocorre com o direito ao trabalho, que transcende uma noção de um feixe de conteúdos e posições jurídicas parcelas que justamente lhe conferem o elemento essencial para a sua efetividade, ainda que, de acordo com o autor, não possa lograr de um significado totalmente abstrato. Considerações Não obstante o direito potestativo de dispensa seja uma cruel necessidade, em decorrência da dinâmica da economia, bem como da rotatividade – necessária, inclusive, para evitar potencializar o número de desempregos, tal direito não pode ser exercido de modo absoluto, quando o que está em jogo é um direito fundamental. Critica-se o exercício pleno de desmedido do poder de dispensa, ou seja, sem que seja necessária qualquer justificativa ou anuência da outra parte – empregado, acarretando maiores desigualdades sociais e diminuindo o acesso ao trabalho digno. Destaca-se que inexiste, atualmente, qualquer restrição legal à dispensa de empregados que dispensaram anos da sua vida em prol do desenvolvimento do empregador e que, às vésperas de sua aposentadoria, pode ser dispensado sem qualquer justificativa. Chama-se a atenção de como isso está arraigado na sociedade e é menosprezado pela cadeia jurídica, seja pela doutrina como também pelos tribunais, a que se denomina “banalidade do mal”, já que a continuidade da relação empregatícia é uma questão social, que interessa a toda população e estruturas da sociedade. Quando o olhar concentra-se ao trabalho como um direito fundamental do trabalhador, indubitavelmente, há a necessidade de se flexibilizar o instituto de dispensa indiscriminada por 105 Artigo 7 parte do empregador, sem que haja a necessidade, especificamente, de alterações legislativas, pois se trata de conferir eficácia à conteúdo material dos direitos fundamentais. Deve-se evitar restrições promovidas por formulações teóricas, que negam a aptidão para a produção de efeitos jurídicos dos direitos sociais mediante incidência direta sobre as situações concretas, como a limitação pontual em situações de abuso nas dispensas sem justa causa. Referências ARANHA, Guilherme Arruda. Direitos Humanos e Dignidade IN PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. Direitos Humanos: Fundamento, proteção e implementação, vol. 2. Curitiba: Juruá, 2010. ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de Trabalho :uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 2003. CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 2. ed. Niterói: Impetus, 2008. CORRÊA, Marcos José Gomes. Direitos Humanos: Concepção e Fundamentos. In PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. Direitos Humanos: Fundamento, proteção e implementação, vol2 Curitiba: Juruá, 2010. CORREIA, Daniel Rosa. A concretização judicial de direitos fundamentais sociais e a proteção do mínimo existencial. Disponível em: https://www.esmec.com.br/upload/arquivos/8-1267643746. pdf. Acesso em: 02.jul.2013. DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Inovações na Legislação Trabalhista: aplicação e análise crítica. São Paulo: LTr, 2000. GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Dignidade da Pessoa Humana, no Mundo do Trabalho, à Luz da Constituição Federal de 1988 IN VILLATORE, Marco Antônio César; HASSON, Roland Direito Constitucional do Trabalho Vinte Anos Depois: Constituição Federal de 1988. Curitiba: Juruá, 2008. MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Despedida Arbitrária ou Sem Justa Causa. Aspectos do Direito Material e Processual do Trabalho. São Paulo: Malheiros Editores: 1996. MARTINS, Sergio Pinto. A Continuidade do Contrato de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2000.. PIOVESAN, Flávia. Direito ao Trabalho e Proteção dos Direitos Sociais nos Planos Internacional e Constitucional IN PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. RESENDE, Renato de Sousa. A Centralidade do Direito ao Trabalho e a Proteção Jurídica ao Emprego IN PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. 3 ed. atual. – São Paulo: LTr, 2000. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Humanos Fundamentais. 8. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. SILVA, Luiz de Pinto Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1999. SUGUIMATSU, Marlente T. Fuverski. Relação de Emprego e (des) proteção Contra a Despedida Arbitrária ou sem Justa Causa: o art. 7º, I, da Constituição IN VILLATORE, Marco Antônio César; HASSON, Roland. Direito Constitucional do Trabalho Vinte anos Depois: Constituição Federal de 1988. Curitiba: Juruá, 2008. 106 A PROTEÇÃO AO TRABALHO ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL E O PODER POTESTATIVO DE DISPENSA DO EMPREGADOR SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho,4 ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. VECCHI, Ipojucan Demétrius. Contrato de Trabalho & Eficácia dos Direitos Humanos Fundamentais de Primeira Geração. Curitiba: Juruá, 2009. WANDELLI, Leonardo Vieira. O Direito Humano e Fundamental ao Trabalho Fundamentação e Exigibilidade. São Paulo: LTr, 2012. WANDELLI, Leonardo Vieira. Despedida Abusiva: O Direito (do trabalho) em busca de uma nova racionalidade. São Paulo: LTr, 2004. 107 Artigo 8 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. Luiz Gustavo Thadeo Braga1 Resumo A uniformização das regras de responsabilidade civil no transporte aéreo doméstico de passageiros sofreu significativa contribuição do Código de Defesa do Consumidor que consagrou o princípio da restitutio in integrum (reparação integral dos danos sofridos). Tendo como regra a responsabilidade civil objetiva, o CDC corrigiu a configuração das relações jurídicas entre empresas aéreas e usuários, eliminando as limitações impostas pelos tratados internacionais que privilegiam as companhias, tornando ainda mais evidentes os direitos da parte vulnerável da relação de consumo. Em que pese os inúmeros questionamentos acerca do aparente conflito entre a legislação internacional e a legislação pátria, não se trata de se discutir a hierarquia de uma norma sobre a outra, mas sim, de se aplicar aquela mais recente e que respeita os direitos fundamentais. Palavra Chave. Responsabilidade civil – transporte aéreo doméstico de passageiros – aparente conflito de normas – supremacia do CDC – respeito aos direitos fundamentais. Abstract The standardization of liability rules in the domestic air passengers suffered significant contribution of the Consumer Protection Code which enshrined the principle of restitutio in integrum (full compensation for damages). Having as a rule the objective liability, the CDC corrected the configuration of legal relations between airlines and users, eliminating the limitations imposed by international treaties that favor companies, making it even more obvious rights of the vulnerable part of the consumer relationship. Despite the numerous questions about the apparent conflict between international law and the Brazilian legislation, it is not to discuss the hierarchy of a standard over another, but rather to apply this latest and respecting fundamental rights Keywords Liability - domestic air transportation of passengers - apparent conflict of standards supremacy of the CDC - respect for fundamental rights 1Introdução Nunca antes a responsabilidade civil no transporte aéreo foi tema de tanta preocupação da doutrina e também dos tribunais. A história da aviação comercial do país apresenta um primeiro período, entre os anos de 1960 e começo dos anos de 1970, chamado de período de “ComMestre em Direito pela Unicuritiba. Professor dos cursos de direito da Faculdade Dom Bosco e Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 1 108 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. petição regulada”, caracterizado por uma maior intervenção do Estado; o segundo, a partir de 1990 denominado de período das “Políticas de flexibilização da aviação comercial” que atingiu o seu ápice em 2005, com a edição da Lei 11.182, de 27 de setembro, a qual deu origem à Agência Nacional de Aviação Civil. Companhias tradicionais como Vasp, Transbrasil e Varig foram consumidas pela ineficácia da nova agência em gerir medidas isonômicas de concessão, contudo, indubitavelmente, a liberação econômica, embora tenha proporcionado uma perda de qualidade dos serviços prestados, facilitou o acesso da população a esse modal de transporte em virtude da redução de tarifas. O crescimento do setor veio acompanhado de expressivos problemas que culminaram em 2006, com a chamada “crise aérea”, uma espécie de “apagão” gerado por um colapso da infraestrutura aeroportuária e de controle de trafego aéreo. Outros problemas ainda são observados, complicando ainda mais a eficiência e a pontualidade dos serviços. Questões como o crescimento da taxa de atendimento nos balcões de check-in, a falta de recursos humanos em número suficiente para atendimento da demanda e capacitados para solucionar os problemas de forma ágil e cordial. Ainda, problemas de dimensionamento dos espaços ocupados pelas companhias que dificultam ou impedem a circulação de passageiros e a formação de filas organizadas. Também, a falta de serviços de apoio e atendimento ao usuário e até mesmo, a inobservância de questões básicas como a prioridade de embarque de pessoas idosas, gestantes e deficientes físicos. O Brasil ratificou diversos acordos internacionais com o objetivo de aderir a regras específicas de responsabilidade civil. E, com o advento do Código de Defesa do Consumidor que consagrou o principio da reparação integral dos danos e a responsabilidade objetiva, criou-se um aparente conflito entre normas. Na verdade, esse conflito é apenas aparente, pois, as normas internacionais e a legislação pátria vivem em perfeita harmonia. Não se trata de supremacia entre as normas, mas sim, de aplicação do CDC nas hipóteses em que o tratado ferir o principio da Dignidade da Pessoa Humana ou o da Reparação Integral. Ademais, o CDC pode ser aplicado subsidiariamente até nos casos de transporte aéreo internacional, quando a legislação internacional for vaga ou omissa. 2 A Responsabilidade civil do transportador aéreo. A responsabilidade civil do transportador aéreo consiste no dever de indenizar a pessoa ou usuário do serviço que em decorrência de sua responsabilidade, venha a sofrer dano. A responsabilidade que interessa a esse trabalho é aquela inerente ao transportador aéreo de passageiros doméstico. Entende-se como transporte aéreo doméstico, nos termos do Artigo 215, do Código Brasileiro de Aeronáutico, aquele “em que os pontos de partida, intermediários e de destino estejam situados em território nacional”2. O transporte aéreo internacional, ou seja, aquele cujos pontos de partida e de chegada situam-se em países diversos, segue regras específicas, Parágrafo único – O transporte não perderá esse caráter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer escala em território estrangeiro, estando, porém, em território brasileiro os seus pontos de partida e destino. 2 109 Artigo 8 notadamente a Convenção de Montreal, de 29 de maio de 1999, debatida durante a Conferência Internacional de Direito Aeronáutico, patrocinada pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI). Essa Convenção atualiza as disposições da Convenção de Varsóvia, datada de 1929, bem como, se sobrepõe a todas as regras de transporte aéreo internacional. Ou seja, inaplicáveis ao transporte aéreo internacional as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica. Em relação às convenções internacionais que disciplinam o transporte aéreo, cumpre esclarecer acerca do conflito delas em relação às leis nacionais, notadamente, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, o Código Brasileiro de Aeronáutica traz em si regras de responsabilidade civil a serem observadas durante a execução de contrato de transporte aéreo doméstico. No entanto, não se revela suficiente para disciplinar de forma clara e segura, o surgimento do dever de indenizar, do transportador e as hipóteses de isenção de responsabilidade. Também, sempre foi criticada pela doutrina a limitação dos danos imposta pelas convenções internacionais e a contraposição com o princípio da reparação integral. O transportador pode ser responsabilizado em diversas hipóteses, sendo as principais: casos de danos por morte do passageiro, lesão, atraso ou cancelamento de voo, overbooking, perda, destruição ou avaria de bagagens e mercadorias transportadas. Além destas, também por atos do comandante ou da tripulação e de funcionários em terra, ressalvadas as hipóteses das chamadas excludentes de responsabilidade. A responsabilidade civil pode ser entendida por meio de duas correntes clássicas. A primeira trata da responsabilidade baseada na culpa, também denominada de “teoria subjetiva”, em que se perquire além da existência do dano, a culpa do autor do ato danoso, bem como, a relação de causalidade entre o fato gerador do dano e o próprio dano. Por outro lado, a corrente da responsabilidade objetiva ou “teoria do risco”, não cogita da existência de culpa, bastando o nexo causal entre ato e dano. A reparação dos prejuízos sofridos pelos usuários do transporte aéreo subordina-se ao princípio da responsabilidade contratual, tendo como norte, o Código Brasileiro de Aeronáutica. Esse diploma legal, além de cuidar da responsabilidade do transportador aéreo por atos ocorridos no interior de aeronave, durante as operações de embarque, voo ou desembarque, também se ocupa da responsabilidade extracontratual (Artigos 268, 269 e 270), sempre que o transportador causar prejuízo a terceiros em solo ou em caso de abalroamento em voo. Para tanto, consideram-se hipóteses de desprendimento de peças ou substâncias de aeronaves que atinjam terceiros na superfície. A responsabilidade contratual estará presente sempre que houver inexecução da obrigação assumida pelo transportador durante o implemento do contrato de transporte, tanto por danos sofridos pelo passageiro, quanto às bagagens por ele trazidas a bordo. Destaca-se nos contratos de transporte aéreo a “cláusula de incolumidade”, a qual assegura que a atividade desempenhada pelo transportador é de fim, de resultado e não simplesmente de meio. Essa cláusula obriga ao transportador a tomar as cautelas necessárias para o sucesso do contrato, garantindo o êxito da pretensão do contratante, mediante condições de segurança, desde os primeiros pro110 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. cedimentos de embarque até a conclusão do desembarque e chegada do passageiro ao saguão do aeroporto. Para exemplificar cita-se a possibilidade de inadimplemento contratual provocado pelo denominado overbooking. Muitos passageiros deixam de se apresentar nos balcões de check-in das companhias (no show) no horário previsto, razão pela qual as empresas aéreas realizam reservas acima da capacidade da aeronave, de forma a gerar uma compensação entre o número de passageiros que não se apresentaram e o dos que fizeram reserva para aquele determinado voo3. O overbooking modernamente, é denominado de oversale, cuja expressão tem uma nova compreensão de que a venda exagerada de passagens não é mais uma medida para viabilizar economicamente determinadas linhas aéreas. Na verdade, a expressão overbooking não se aplica ao sistema de venda de passagens no Brasil. Ocorre que as companhias nacionais não operam com o sistema de reserva de passagens, processo comum na América do Norte ou Europa e que retrata o verdadeiro sentido da expressão overbooking. No Brasil, se tem apenas a venda de passagens e quando esta ocorre em excesso, além da capacidade de assentos da aeronave, configura-se o chamado oversale. Assim, pensando no sistema adotado em outros países, aquele que portar bilhete com reserva confirmada e que for impedido de embarcar em razão do excesso de passageiros já embarcados (overbooking), terá direito a “ser acomodado pela empresa em outro voo, próprio ou de congênere”. No Brasil, verificado o oversale, o passageiro terá o mesmo direito, respeitado o prazo máximo de quatro horas após o horário previsto para a partida da aeronave para a qual tinha embarque previsto. Ainda, na impossibilidade de acomodação imediata, o passageiro poderá optar pelo embarque em horário diverso além das quatro horas ou ser reembolsado do valor pago. Havendo espera para embarque por tempo superior a quatro horas, obriga-se, o transportador, a providenciar hospedagem, alimentação e transporte. A revalidação do bilhete de embarque, igualmente, deverá ocorrer independentemente de ônus ao passageiro. Assim, as empresas praticam o overbooking com a finalidade de evitar riscos relativos às perdas causadas pela decolagem de uma aeronave com ociosidade de assentos. “Entretanto, esta prática pode resultar em uma situação de risco, em que um passageiro, com reserva confirmada e presente ao embarque no momento do vôo, tenha seu embarque negado devido à falta de assentos disponíveis na aeronave – o chamado denied boarding”.4 Enquanto o overbooking é entendido como uma prática benéfica para empresa, na medida em que diminui seus riscos de prejuízos causados pelo não comparecimento de passageiros com reserva confirmada, por outro lado, tal prática pode não ser igualmente benéfica e tolerável pelos passageiros que tenham seu ingresso na aeronave negado. Quando isso acontece, diz-se que o overbooking foi mal sucedido, o que está se tornando uma prática rotineira das companhias aéreas brasileiras, cujo ápice foi constatado, exatamente, na pior época da batizada crise aérea, PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 337. 4 FERRAZ, Renée Baptista; OLIVEIRA, Alessandro Vinícius Marques de. A estratégia de overbooking e sua aplicação no mercado de transporte aéreo brasileiro. Disponível em: <http://www.nectar.ita.br>. Acesso em: 13 mar. 2009, p. 06. 3 111 Artigo 8 muito longe de ser totalmente afastada. Na verdade, além de vantajoso para a companhia aérea, ainda assim, pode ser considerado apenas pelo passageiro beneficiado que consegue embarcar. A questão ética a se observar aqui está na escassez de informações quanto às possibilidades de se praticar o overbooking ou ainda, quanto às formas de indenização e providências, de responsabilidade das companhias em relação aos passageiros não embarcados. A conduta, muitas vezes, evasiva ou despreocupada das companhias aéreas causa transtornos desnecessários, aumentando ainda mais, o descrédito das empresas aéreas já, há muito, bastante acentuado. Geralmente, o passageiro não atingido pelo overbooking é aquele que deixou para adquirir o bilhete de embarque nos dias próximos ao voo e que, por consequência, despendeu maiores quantias. Ou seja, aquele passageiro que se aproveitou das promoções tarifárias e adquiriu o bilhete com relativa antecedência, provavelmente, será o atingido pelo denied boarding. A imagem negativa que prevalece é a de desorganização da companhia mesmo que o overbooking seja uma estratégia competitiva largamente utilizada no mundo da aviação comercial, mas que, no Brasil, recebe das empresas pouca ou nenhuma atenção, notadamente, em relação ao trato com o passageiro. Usualmente, as companhias, após o encerramento das operações de embarque, questionam aos passageiros já embarcados se há, entre eles, alguém que queira ceder seu assento a um passageiro que teve o embarque negado, ou seja, esse embarque dependerá da voluntariedade de outros passageiros. Ao passageiro não embarcado deverá ser disponibilizado outro voo no prazo máximo de quatro horas ou, na impossibilidade de se verificar essa opção, o reembolso do valor despendido. Outras facilidades, igualmente, devem ser oferecidas como comunicação, hospedagem, transporte e alimentação. Isto tudo se torna impactante para a estratégia das companhias especialmente, se os riscos foram mal calculados. O Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal assegura que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondam por danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Assim, a Carta Magna acolhe a responsabilidade civil objetiva baseada no risco administrativo. Um típico exemplo de responsabilização do Estado ocorre nos casos de atrasos e cancelamento de voos, sendo que a partir desse modelo pode-se demonstrar a hipótese mais comum de responsabilidade extracontratual. Conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica, os atrasos inferiores a 04 (quatro) horas estão dentro da tolerância técnica, tendo em vista que a prestação de serviços aéreos está condicionada a fatores incontroláveis, como condições climáticas adversas, congestionamento de tráfego aéreo e manutenção não programada de aeronaves. A partir de 04 (quatro) horas, a empresa é obrigada a oferecer alternativas aos passageiros com check-in efetuado tais como, alimentação, hospedagem, traslado e até telefonemas. Também deve remarcar os voos para o mesmo destino ou providenciar o embarque do passageiro em outra companhia aérea, além de reembolsar o valor da passagem5. O mesmo ocorre na hipótese de cancelamento do voo. 5 Art. 229. O passageiro tem direito ao reembolso do valor já pago do bilhete se o transportador vier a cancelar a viagem. rt. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, A 112 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. É preciso destacar que nem sempre o transportador é considerado responsável pelo atraso ou pelo cancelamento do voo. Como é cediça, a navegação aérea depende fundamentalmente de condições que não correspondem exclusivamente à atividade desenvolvida pela empresa aérea, a exemplo das condições meteorológicas. É por esta razão que se considera, no caso em discussão, que a responsabilidade pode ser entendida como extracontratual ensejando o direito de regresso do transportador. Nesse aspecto, as condições operacionais dos aeroportos, em que se destacam as manobras de pousos e decolagens, além das condições dos equipamentos de auxílio à navegação e à disponibilidade dos operadores de voo, são fundamentais para a garantia dos serviços prestados pelas companhias. A paralisação de controladores de voo e defeitos técnicos ocorridos com equipamentos pode tornar o sistema da navegação aérea inoperante. Quando os atrasos ou cancelamentos decorrerem exclusivamente da inoperância do sistema de controle de tráfego aéreo, há que se admitir a responsabilização da União. Os controladores de tráfego aéreo, militares ou civis, assim como, os pilotos militares são “prepostos” do Estado, ou seja, da União Federal6. Assim, considera-se que a obrigação de reparar os danos seja, quiçá, solidária, no entanto, o usuário do transporte poderá optar em obter a indenização diretamente da União, inclusive, de ordem moral. Assim, desde que as companhias aéreas arquem com todos os prejuízos decorrentes da atuação do controle de tráfego aéreo, lhes assiste o direito de propor ação regressiva7, visando à atenuação dos danos sofridos, com fundamento no Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Portanto, a responsabilidade extracontratual está concentrada especificamente na total isenção da companhia aérea quanto às causas do atraso superior a 4 horas ou do cancelamento do voo, em que não tenha havido participação direta do transportador. A empresa se vinculará objetivamente à obrigação de reparar o dano causado ao passageiro na medida em que deixar de tomar as providências que amenizem os efeitos negativos proporcionados em razão da longa espera pelo momento do embarque, prestando a assistência ao passageiro. Conquanto tenha agido com solicitude e diligência, os danos a serem reparados serão exigidos diretamente do poder concedente. Comprovada a culpa do ente público, consoante os Artigos 186 e 934 do Código Civil, as companhias aéreas igualmente encontram amparo para a pretensão regressiva. em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. A rt. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. P arágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil. 6 BRAGA, Luiz Gustavo Thadeo. Caos aéreo: responsabilidade do Estado em face dos atrasos e cancelamentos de voos. Consulex, Revista Jurídica, ano 11, nº. 249, maio, p. 26-31, 2007. 7 Súmula 187, do STF: “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. 113 Artigo 8 Nesse contexto, são importantes as palavras de Rui Stoco8: [...] Extrai-se, daí, a regra de que “todo prejuízo causado pela empresa administrativa, prejuízo que, em última analise, é um encargo público, porque esta empresa não é mais o negócio de um soberano todo poderoso, mas deve, quando fere a igualdade dos indivíduos perante os encargos públicos ser reparado. A responsabilidade do Poder Público visa, portanto, ao restabelecimento do equilíbrio econômico patrimonial exigido pela ideia de igualdade dos cidadãos em relação aos ônus públicos, ideia consagrada na consciência jurídica moderna” (RF 104/229). Mas, opondo-se à teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade objetiva do Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade. Assim, essa responsabilidade objetiva do Estado pode ser reduzida ou excluída conforme haja culpa concorrente do particular, ou tenha sido este o responsável exclusivo pelo evento e, ainda, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, em que também ocorre o rompimento do liame causal”. [...]. Portanto, o principio da responsabilidade objetiva, escorada na teoria do risco administrativo mitigado (adotado em nosso ordenamento jurídico), não se reveste de caráter absoluto, ou seja, não é sempre e em todo e qualquer caso que se impõe ao Estado indenizar, pelo só fato do dano sofrido pelo particular, por ação ou omissão de seus prepostos. Para incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor exige-se que no caso concreto haja caracterizada uma legítima relação de consumo. Assim, é imprescindível a verificação de três elementos básicos: o consumidor, o fornecedor e o produto ou serviço. Para efeitos do serviço de transporte aéreo de passageiros, entende-se como consumidor o usuário desse serviço, conquanto, perfeitamente adequado ao conceito contido no caput do Artigo 2º, da Lei 8.078/90, notadamente em razão da impossibilidade de se descaracterizar o passageiro como “destinatário final”. Por conseguinte, para que a empresa aérea seja entendida como prestadora de serviço, há que se ter, preliminarmente, um contrato oneroso de transporte, porquanto, a pessoa física que é transportada gratuitamente não pode invocar o Código de Defesa do Consumidor para reclamar por eventuais vícios da qualidade por inadequação do serviço (Artigos 19 e 20) ou da qualidade por insegurança ou acidente (Artigo 14). Isto porque é essencial da relação de consumo a remuneração pelo serviço prestado. Indubitavelmente, o transportador aéreo presta serviço e se enquadra perfeitamente no conceito do Artigo 3º, do CDC. O Código de Defesa do Consumidor, a Convenção de Montreal9 e o Código Brasileiro de 8 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 972. A Convenção de Varsóvia, de 12 de outubro de 1929, foi recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº. 20.704, de 24 de novembro de 1931. Foi emendada pelo Protocolo de Haia, de 28 de setembro de 1955 e, em 28 de maio de 1999, foi substituída pela Convenção de Montreal para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional. 9 114 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. Aeronáutica ingressam no campo do conflito apenas quando a matéria versa sobre responsabilidade civil do transportador. O primeiro aspecto em que discordam as legislações é no tocante à limitação da indenização. Em que pese, a Constituição Federal expressamente recepciona os tratados internacionais, o mesmo aconteceu com a Convenção de Varsóvia e todas as que sucederem esse pacto internacional do qual o Brasil participa. Todos eles limitam o valor das indenizações, o que confronta as normas constitucionais, notadamente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa limitação é fruto do entendimento da época de que o transportador não poderia suportar o pagamento de indenizações na hipótese de morte de todos os passageiros, o que lhe causaria a ruína dos negócios. Outro entendimento que vigorava na época da Convenção de Varsóvia, absolutamente insustentável nos dias atuais, era o de que o usuário do transporte aéreo gozava de privilégios econômicos e, portanto, poderia arcar com parte dos prejuízos. Ademais, a Convenção de Varsóvia, que foi substituída pela Convenção de Montreal, não se sobrepõe aos preceitos constitucionais, mormente aqueles inseridos no título referente aos Direitos e Garantias Fundamentais. No transporte internacional de pessoas, a responsabilidade civil do transportador é limitada à importância de duzentos e cinqüenta mil francos, por passageiro (art. 22, alínea 1). Em se cuidando de transporte internacional de mercadorias, ou de bagagem registrada, a responsabilidade do transportador ficará limitada à quantia de duzentos e cinquenta francos por quilograma, “salvo declaração especial de “interesse na entrega”, feita pelo expedidor no momento de confiar os volumes ao transportador, e mediante o pagamento de uma taxa suplementar eventual” (art. 22, aliena 2). No que concerne aos objetos que o passageiro conservar sob sua guarda, a Convenção de Varsóvia estabelece que a responsabilidade do transportador limita-se a cinco mil francos por passageiro (art. 22, aliena 3). A todos valores acima mencionados poderão ser acrescidas as despesas do autor e outras custas do processo (art. 22, alínea 4). A “Convenção de Varsóvia” adota como unidade monetária para indenização o denominado “franco poincaré” (art. 22, alínea 5) que tem o valor de sessenta e cinco miligramas e meia de ouro puro (barra ou lingote de ouro com teor de ouro mínimo de 995 partes em 1.000 partes de metal total). As somas estabelecidas a título de indenização, por sua vez, deverão ser convertidas, em números redondos, na moeda nacional de cada país. A conversão destas somas em moedas nacionais que não a moeda-ouro, por sua vez, será efetuada, em caso de ação judicial, segundo o valor-ouro destas moedas na data do julgamento.10 A legislação de proteção aos direitos do consumidor não estabeleceu um limite mínimo ou máximo para o pagamento das indenizações. Pelo contrário, invoca em seu Artigo 6º, inciso GRASSI, Roberto Neto. Crise no setor de transporte aéreo e a responsabilidade por acidente de consumo. In: XVI Congresso Nacional do CONPEDI. Anais Eletrônicos... Belo Horizonte, 2007. Disponível em: < http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/roberto_grassi_neto.pdf >. Acesso em: 10 dez. 2008 10 115 Artigo 8 VI, o chamado “princípio da reparação integral”11, de forma que a reparação do dano seja a mais ampla e efetiva possível. Dessa forma, o CDC afasta qualquer possibilidade de limitação da indenização a ser paga pela vítima de acidente de consumo. O próprio Código de Defesa do Consumidor consagra que tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil seja signatário não serão excluídos. É preciso dizer, no entanto, que tais pactos não anulam as disposições do CDC, reduzindo-as ou as ampliando. E, o mesmo se diga em relação à Constituição Federal, na medida em que, também os tratados internacionais firmados pelo país, nunca inviabilizem as garantias constitucionais. A Constituição Federal, inclusive, sustenta o nascimento do CDC, elevando-o ao nível de estatuto de proteção da ordem econômica. Mas, a jurisprudência brasileira já assentou posicionamento no sentido de que em caso de danos sofridos por usuários do transporte aéreo prevaleçam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Segundo André Uchôa Cavalcanti: A proteção ao consumidor, por seu turno, também é mandamento constitucional dirigido ao Estado, incluso entre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, inciso XXXII) e nos princípios gestores da ordem econômica, tendentes a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A responsabilidade regrada pelo CDC é baseada na teoria do risco da atividade do transportador ou risco do empreendimento. Para Sergio Cavalieri Filho12: [...] todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou exercer determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. Os argumentos da corrente dominante propõem que o microssistema do CDC, pelo critério hierárquico, possui status constitucional (Artigo 5º, XXXII) prevalecendo sobre tratados internacionais, os quais recebem status de lei ordinária. Em se cuidando de relação de consumo, independentemente do que conste dos tratados internacionais, deve-se, pois, verificar, no diálogo das fontes, qual a norma mais favorável 11 12 Artigo 5º, V e X , da Constituição Federal. CAVALIERI, Sérgio Filho Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 116 2007, p. 162-163. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. ao consumidor, em cumprimento ao que consta na própria Constituição de 1988, que prevê a proteção ao consumidor como princípio inscrito dentre os direitos e garantias individuais, bem como princípio geral da atividade econômica. Haverá, em tais situações, responsabilidade civil objetiva e ilimitada, por parte do transportador, desde que feita a prova idônea do nexo causal e do prejuízo suportado. 13 Ademais, o Código de Defesa do Consumidor subordina a atuação das prestadoras de serviço público (Artigo 22 e parágrafo único)14, tais como as companhias aéreas. A jurisprudência do STF já confirmou que, ao se tratar de transporte aéreo internacional e apenas nessa hipótese, ainda se reconhece a aplicação da Convenção de Varsóvia, pois, do contrário, estar-se-ia negando-lhe vigência e desrespeitando um acordo do qual o Brasil é signatário e, portanto, deve-lhe respeito. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 297901 em que foi relatora a Ministra Ellen Gracie. PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.15 Ao se tratar da questão sob o ponto de vista da hierarquia das normas, igualmente não se encontra forma de defender a preponderância da Convenção de Varsóvia. Seguindo-se à regra a muito sustentada pela doutrina, os tratados internacionais anteriores prevalecem sobre as leis internas posteriores divergentes. Essa é a corrente internacionalista que se determina, tão somente, pela hierarquia superior dos tratados que regulam matéria em caráter especial, enquanto que a norma nacional conflitante possui geralmente caráter geral. Todavia, os internacionalistas não levam em consideração as peculiaridades da convenção quando em conflito com a Lei 8.078, notadamente, que “a indenização por acidente de transporte aéreo é limitada, para atenuar os efeitos da responsabilidade objetiva[...]”.16 Ocorre que a Convenção de Varsóvia responsabiliza o transportador “pelo dano ocasionado por morte, ferimento ou qualquer outra lesão corpórea sofrida pelo viajante, desde que o acidente, que causou o dano, haja ocorrido a bordo da aeronave, ou no curso de quaisquer operações de embarque ou desembarque” (Artigo 17). Ao mesmo tempo, exime o transportador GRASSI, ibid., 4813. “Os órgãos Públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”. 15 Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 03 de maio de 2015. 16 PACHECO, ibid., p. 370. 13 14 117 Artigo 8 de qualquer responsabilização se provar que “tomou, e tomaram os seus prepostos, todas as medidas necessárias para que se não produzisse o dano, ou que lhes não foi possível tomá-las” (Artigo 20). Essa disposição, portanto, é incompatível com a responsabilidade civil objetiva tratada pelo Código de Defesa do Consumidor, conquanto, demais abrangente para as excludentes aceitas pelo CDC. Doravante, caberá ao Poder Judiciário Brasileiro a apreciação desse tema sob o enfoque da recente adesão da União à Convenção de Montreal, em vigência no Brasil desde 27 de setembro de 2006, por força do Decreto nº. 5.910. Essa Convenção já se encontrava em vigor desde 04 de novembro de 2003, porquanto, atingido o pré-requisito de depósito de instrumentos de ratificação de pelo menos 30 países (Estados Partes). Após a ratificação do último país, passou-se à contagem do prazo de 60 (sessenta) dias para sua definitiva entrada em vigor. A Convenção de Montreal possui prevalência sobre todos os demais tratados internacionais que orientam o transporte aéreo internacional17. Roberto Grassi Neto resume a Convenção de Montreal da seguinte forma: A Convenção de Montreal estabelece que a responsabilidade civil do transportador por dano existirá apenas: a) em caso de morte ou de lesão corporal de passageiro, se estas tiverem ocorrido a bordo da aeronave ou durante as operações de embarque ou desembarque (art. 17); b) em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem despachada, se o evento causador se deu a bordo da aeronave ou enquanto a bagagem despachada estiver sob a guarda do transportador (art. 17); c) em caso de destruição, perda ou avaria da mercadoria, desde que seu evento causador ocorra durante o transporte aéreo (art. 18); d) em havendo atraso no transporte aéreo de passageiro, bagagem ou mercadorias (art. 19). Em restando provado, porém, que o fato decorreu de negligência ou outro ato doloso ou omissão da pessoa que reclama a indenização, ou da pessoa de quem emanam os direitos da primeira, que causou ou contribuiu para o dano, a transportadora será total ou parcialmente exonerada da sua responsabilidade perante o requerente (art. 20).18 O autor ainda explica que pela nova Convenção, o transportador, em caso de morte ou lesão corporal “não poderá eximir-se de indenizar o consumidor, ficando a este assegurado, pelo menos, o recebimento de quantia equivalente a 100.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (Art. 21)” 19. No que tange às causas excludentes de responsabilidade, a Convenção de Montreal tornou-se mais clara e adequada à teoria da responsabilidade objetiva. O transportador aéreo assume o ônus de demonstrar que os danos não foram causados por negligência, dolo ou omissão de seus agentes e ainda terá como comprovar que contribuíram para a ocorrência dos danos, atos de terceiros, seja por negligência, dolo ou omissão. a) da Convenção para a unificação de regras relativas ao transporte aéreo internacional, firmada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, denominada “Convenção de Varsóvia”; b) do Protocolo de Haia, de 28 de setembro de 1955, que modificou a referida Convenção, cognominado “Protocolo de Haia”; c) da Convenção de Guadalajara, firmada em 18 de setembro de 1961; d) do Protocolo de Guatemala, assinado em 8 de maio de 1971; e) dos Protocolos n. 1, 2, 3 e 4 de Montreal, firmados em 25 de setembro de 1975. 18 GRASSI, ibid., p. 4805. 19 Ibid., p. 4806. 17 118 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. Ainda resta esclarecer que a Convenção de Montreal adota como unidade monetária para instruir as indenizações o chamado “Direito Especial de Saque” (DES) em substituição ao “Franco Poincaré”, antes estipulado pela Convenção de Varsóvia. O “Direito Especial de Saque”, como unidade monetária, é definido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O FMI, Instituição criada em 1944, pelo Acordo de Bretton Woods, desenvolveu, em 1969, o Direito Especial de Saque – DES - (em inglês: Special Drawing Rights - SDR), moeda escritural utilizada como Reserva dos Estados, naquela Instituição, juntamente com o ouro e moedas de alguns países de economia forte e estável, constituindo as Reservas dos Estados junto ao FMI. Até então, os Estados lastreavam suas moedas em ouro, contudo, nos primeiros anos da década de setenta, os Estados começaram a substituir suas reservas em ouro por Direitos Especiais de Saque e moedas fortes de outros países, abandonando o lastro-ouro, até então adotado.20 A Convenção de Montreal, ao contrário de Varsóvia, definitivamente adota a teoria do risco do empreendimento, enquanto a segunda lastreava-se pela presunção de culpa. Porém, para a Convenção de Montreal, a responsabilidade é objetiva até o limite de 100.000 DES. Essa situação não perquire hipóteses de isenção de responsabilidade. Caberá à vítima a demonstração, apenas, de que o dano ocorreu a bordo da aeronave ou durante as operações de embarque ou desembarque. Essa aferição caberá ao judiciário quando do julgamento de cada caso. Quando o dano efetivo superar o patamar de 100.000 DES, emergirá a teoria da presunção de culpa do transportador que lhe possibilitará a prova de que o evento danoso não ocorreu por negligência, ação ou omissão de seus agentes a fim de eximir-se do dever de indenizar. Já no que tange ao conflito entre as disposições do Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica, Ali Taleb Fares, esclarece: Já no que se refere ao conflito criado pelo Código de Defesa do Consumidor, este, por ser lei nova, prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Apesar de alguns dizerem que a lei geral posterior (CDC) não revoga a lei especial anterior (CBA), não procede o argumento, pois tal regra não é absoluta e não se aplica ao caso em exame. Conforme ensina Antonio Herman Benjamin, “o Código de Defesa do Consumidor pertence àquela categoria de leis denominadas ‘horizontais’, cujo campo de aplicação invade, por assim dizer, todas as disciplinas jurídicas (...) São normas que têm por função, não regrar uma determinada matéria, mas proteger sujeitos particulares, mesmo que estejam eles igualmente abrigados sob outros regimes jurídicos” . É o Código de Defesa do Consumidor lei especial, no sentido de atingir toda e qualquer relação de consumo; sempre que houver tais relações, aí incidirá o Código. Assim, tratando-se de relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor é lei própria, específica e exclusiva. 21 PEREIRA, Guttemberg Rodrigues. Conferência de Direito Aeronáutico. 18 a 28 de maio de 1999 – Montreal, Canadá - Convenção para unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional. Revista Brasileira de Direito Aeroespacial. Disponível em: <http://www.sbda.org.br/artigos/Anterior/07.htm >. Acesso em: 19 mar. 2009. 21 FARES, Ali Taleb. Novo panorama da responsabilidade civil no transporte aéreo. Disponível em: <http://www.sbda.org. 20 119 Artigo 8 O CBA, a exemplo da Convenção de Varsóvia, também limita a responsabilidade do transportador aéreo22 e como já se ressaltou, tal limitação encontra resistências na jurisprudência brasileira. Em seu Artigo 248, o CBA estabelece que os limites não se aplicam quando o dano resultar de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos. Segundo José da Silva Pacheco “uma ação ou omissão temerária e consciente da probabilidade da ocorrência do dano [...]”23. Marco Fábio Morsello parte do pressuposto de que o Código de Defesa do Consumidor já seria preponderante simplesmente pelos critérios cronológicos, da especialidade e da hierarquia24. Porém, o autor ainda elenca outras razões para a antinomia entre ambos os estatutos como a regra do Artigo 246, do Código Brasileiro de Aeronáutica, a qual impõe limitação aos danos, no caso de responsabilidade contratual do transportador, quanto às hipóteses dos Artigos 257, 260, 262 e 277, do CBA. Isso ocorre devido à grave afronta aos preceitos constitucionais (Art. 5°, XXXII e Art. 170, V) e Art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.25 Morsello ainda ressalta a preponderância do CDC afirmando que o prazo prescricional desse código, que é de cinco anos conforme Artigo 27, para a pretensão indenizatória, é mais favorável ao consumidor em relação ao prazo de dois anos do Artigo 317, I a III do Código Brasileiro de Aeronáutica. 26 Entretanto, reitere-se que o conflito de normas somente se impõe na parte em que as legislações em questão tratam da responsabilidade civil. Também, desde a edição do CDC, muitos de posicionaram pela impertinência da velha regra lex posterior generalis non derragat priori speciali, pois, como “lei própria, específica e exclusiva [...] nenhuma outra lei pode e ele (Código) se sobrepor ou substituir”. [...]. Sendo o Código do Consumidor uma lei mais nova e da mesma hierarquia das leis anteriores que pontualmente disciplinam a matéria, toda evidência há de prevalecer naquilo que inovou, de acordo com as regras do Direito Intertemporal. 27 A transição entre a Convenção de Varsóvia e a de Montreal ainda está sendo assimilada pela jurisprudência brasileira, entretanto, no que tange às excludentes de responsabilidade disciplinadas pelo sistema anterior, já recebiam críticas quanto à denominada “Teoria da Diligência”. Ocorre que a Convenção de Varsóvia autorizava ao transportador, para isentar-se do dever de indenizar, a comprovação de que havia tomado todas as medidas necessárias para evitar o dano ou de que era impossível evitá-lo. Mas, como já se ressaltou anteriormente, ao se tratar de relação de consumo, onde vigora a Teoria do Risco do Empreendimento ou Teoria do Risco Proveito, aquela excludente não encontra espaço. br/artigos/Anterior/1731.htm >. Acesso em: 22 nov. 2008. 22 Artigo 246: “A responsabilidade do transportador, por danos ocorridos durante a execução do contrato de transporte, está sujeita aos limites estabelecidos neste Título”. A rtigo 257: “A responsabilidade do transportador, em relação a cada passageiro e tripulante, limita-se, no caso de morte ou lesão, ao valor correspondente, na data do pagamento, a 3.500 (três mil e quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), e, no caso de atraso do transporte, a 150 (cento e cinquenta) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN)”. § 1º - Poderá ser fixado limite maior mediante pacto acessório entre o transportador e o passageiro. § 2º - Na indenização que for fixada em forma de renda, o capital para a sua constituição não poderá exceder o maior valor previsto neste artigo. 23 PACHECO, ibid., p. 377. 24 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 413. 25 Ibid., p. 414. 26 Ibid., p. 415. 27 CAVALCANTI, André Uchôa. Responsabilidade civil do transportador aéreo: tratados internacionais, leis especiais e Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 119. 120 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. Aliás, o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica já afastou essa disposição de Varsóvia (Artigos 256, 261 e 264) criando, assim, mais uma crise de subsistência entre os dispositivos legais. Marco Fábio Morsello, inclusive, propõe uma releitura da Teoria da Diligência afirmando que as duas correntes que a interpretaram não mais se valem isoladas. Uma das correntes, escudada no critério objetivo, baseia-se na exigibilidade da conduta do transportador e em parâmetros de razoabilidade da atividade28. Ou seja, que todas as medidas necessárias para se evitar o dano seriam todas aquelas razoáveis e que o acidente teria sido causado por algo superior às possibilidades do transportador e de seus agentes. A outra corrente, em consonância com a “Teoria subjetiva”, valora “o comportamento e condições psicológicas do sujeito que se encontrava executando a prestação do transporte”. 29 Marco Fábio Morsello ressalta que além da prova da razoabilidade e da adoção de todas as medidas ou de não se tê-las adotado por serem impossíveis, o transportador há de provar, ainda, o “fato externo, insuperável ou invencível [...]”, o que o autor chama de “força maior extrínseca”. 30 A culpa exclusiva da vítima, por outro lado, é acatada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor como excludente de responsabilidade (Artigo 14, § 3º, II). Igualmente o faz o Artigo 21, da Convenção de Varsóvia. Como alerta Sérgio Cavalieri Filho, o fato exclusivo da vítima pode ser invocado pelo transportador sempre que o único agente determinante para o evento danoso tenha sido o próprio passageiro. Mas, essa excludente afasta-se do campo da culpa para se inserir especificamente na seara do nexo causal. 31 Conquanto trate-se, no caso concreto, de culpa concorrente do passageiro, José de Aguiar Dias pontifica que “a responsabilidade é de quem interveio com culpa eficiente para o dano”. O autor ainda esclarece que quando uma culpa exclui a de outrem, a intervenção de um agente concorrente deve ser de tal forma decisiva que a culpa do outro passa a ser irrelevante. Mas essa análise deve ficar a critério do magistrado ao apreciar o caso concreto. 32 É o caso de pessoa que traz consigo para o interior da aeronave artefato explosivo que em pleno voo é detonado causando-lhe a morte e sem maiores consequências para os demais passageiros. Já o fato de terceiro somente exonera o transportador do dever de indenizar efetivamente se configurar causa estranha ao contrato de transporte, eliminando totalmente a relação de causalidade entre o dano e a execução do contrato.33 Carlos Roberto Gonçalves afirma que o fato de terceiro equipara-se ao caso fortuito, porém, lembra que a jurisprudência rechaça essa excludente ao argumento de que a responsabilidade não é elidida por fato de terceiro porque contra esse o transportador possui ação regressiva (Súmula 187, do Supremo Tribunal Federal).34 É o caso, por exemplo, de atrasos e cancelamentos de voos em razão de ação dos controladores de tráfego aéreo. MORSELLO, ibid., p. 287. MORSELLO, ibid., p. 287. 30 Ibid., p. 287. 31 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 293. 32 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 946. 33 Ibid., p. 926. 34 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 747. 28 29 121 Artigo 8 Tal exoneração restaria admitida quando o fato de terceiro for considerado doloso e que não guarde nenhuma relação com os riscos do empreendimento.35 Ocorre que o fato de terceiro há de ser atribuído a alguém especificamente. Se o dano não pode ser atribuído a alguém, nesse sentido de que se deve a ação humana, estranha aos sujeitos da relação vítima-responsável, não há fato de terceiro, mas caso fortuito ou força maior. 36 Certamente, as maiores dúvidas pairam sobre a configuração do caso fortuito e da força maior, notadamente, ao se tratar de transporte aéreo. Cumpre traçar um breve conceito de força maior e caso fortuito. Opiniões abalizadas, como as de Sergio Cavalieri Filho, sustentam a inexistência de diferença entre ambos. Segundo o autor, o fortuito se caracterizaria pela imprevisibilidade enquanto a inevitabilidade seria a força maior. 37 Entretanto, em decorrência da alta tecnologia que envolve o sistema de tráfego aéreo na atualidade e que equipa as aeronaves comerciais, a imprevisibilidade deixou de ser um fator preponderante para a isenção de responsabilidade. Já o caso fortuito, a fim de servir como fator excludente da responsabilidade, é dividido pela doutrina em fortuito interno e externo. O interno está sempre relacionado à organização da empresa como o estouro de um pneu durante o pouso, o choque com pássaros durante a decolagem que danificam estruturas ou motores da aeronave ou o mal súbito do comandante que lhe causa a morte. O fortuito externo, por sua vez, também é fato imprevisível e inevitável, porém, estranho aos negócios da companhia, que com ela não guardam nenhuma relação. Há quem o compare com a força maior, razão pela qual, a doutrina quase não faz distinções entre ambas as excludentes. Ocorre que, previsível ou não, a jurisprudência não acolhe sequer o fortuito externo, quanto mais o interno. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, basta haver um defeito do serviço para obrigar ao transportador o pagamento da devida indenização. A justificativa está no fato de que, embora extrínseco o evento danoso, a maioria deles, dado o avanço da ciência e da tecnologia, tornou-se previsível ou, ao menos, superável. Em sua obra, Marco Fábio Morsello menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 140.659-RJ, publicado em 11/02/99, o caso fortuito foi classificado como uma “força ininteligente, em condições que não podiam ser previstas pelas partes”. Já a força maior, tratar-se-ia de um fato de terceiro, criadora de um obstáculo cuja boa vontade do devedor não é suficiente para vencê-la. O autor ainda menciona outra decisão do mesmo Tribunal (Recurso Especial 120.647/SP, julgado em 16/02/2000), em que 3ª Turma considerou para caracterização do caso fortuito a necessidade de restarem plenamente demonstradas a inevitabilidade e a não imprevisibilidade, porém, dentro de um critério de razoabilidade daquilo que seria exigível do transportador. 38 CAVALIERI FILHO, ibid., p. 295. DIAS, ibid., p. 928. 37 Ibid., p. 291. 38 MORSELLO, ibid., p. 27. 35 36 122 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. Há, no entanto, que se levar em consideração que mesmo previsíveis ou superáveis tais ocorrências podem tornar-se irresistíveis. Relatos de turbulências com forças destrutivas raras, porém, indetectáveis aos mais modernos instrumentos, servem como exemplo. Ainda outro tema que merece atenção são as condições meteorológicas que repercutem no campo da responsabilidade civil. É sabido que o fator meteorológico adverso não se apresenta como um fenômeno imprevisível. As condições climáticas que ensejem interrupção da execução do contrato de transporte, no entanto, devem ser consideradas em conjunto com outros fatores como, por exemplo, as providências tomadas pelo transportador, as ordens emanadas das autoridades aeronáuticas para a proteção do voo (princípio da proteção). Certas condições climáticas podem se tornar irresistíveis, notadamente, quando a aeronave já estiver em voo. Nessas hipóteses, é forçoso, por parte do comandante da aeronave, a tomada de decisão imediata que lhe obrigaria o desvio de rota ou inclusive, o pouso em aeródromo diverso do previsto como destino. Nesses casos, a excludente de responsabilidade subsiste. Ademais, os fenômenos meteorológicos são detectados com facilidade pelos equipamentos da aeronave e de solo, o que torna fácil a tomada de medidas preventivas para elidir a irresistibilidade. Apenas quando impossíveis tais medidas é que haverá preponderância da excludente. No caso extremo de cancelamento do voo cumprirá, ao transportador, a adoção das providências de praxe como, hospedagem aos passageiros, traslado, alimentação, recolocação em outro voo da companhia ou devolução dos valores pagos. Tais medidas elidem o dever de indenizar. Por fim, através da Resolução nº. 37, de 07 de agosto de 2008, a ANAC promove a atualização dos limites de indenização de que trata o Código Brasileiro de Aeronáutica. Ocorre que entre a extinção da OTN em 1986, até a criação do Real em 1994, os valores das apólices de seguros eram atualizados por critérios definidos pelo Instituto de Resseguros do Brasil, atual IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. A última atualização foi realizada pelo Instituto em 1995, através do comunicado DECAT-001/95. Por recomendação do Ministério Público Federal, a ANAC aprovou a Resolução 37/08, a qual, no Artigo 01º, estabelece o valor unitário da OTN em R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos), adotando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização monetária, desde julho de 2008. 4 Considerações finais. O Código de Defesa do Consumidor é consideravelmente mais favorável ao usuário do transporte aéreo porque consagra a responsabilidade civil objetiva e mesmo que o caso, sob apreciação do Poder Judiciário brasileiro envolva um transportador aéreo internacional, o julgador poderá decidir em conformidade com o ornamento jurídico pátrio. Isto porque o CDC não limita a indenização assim como fazem os tratados. O concessionário de serviço público, assim como as companhias aéreas, responde por suas ações perante terceiros de acordo com os mesmos critérios e princípios que regem a res123 Artigo 8 ponsabilidade do Estado, nos moldes do Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,39 portanto, a responsabilidade é objetiva. As normas do consumidor foram trazidas pela Constituição Federal de 1988, ao status de Direito Fundamental, nos termos do artigo 5º, inciso XXXII. Em relação ao contrato de adesão, sequer há um documento formal com as intenções do contratante/passageiro. Via de regra, as cláusulas estão compreendidas no bilhete de embarque, emitido pela empresa, caracterizando a aceitação tácita às condições e não existindo, ao passageiro, qualquer hipótese de discussão da forma como o contrato será executado. Esse é mais um dos motivos para que o usuário, entendido como parte hipossuficiente da relação, tenha em seu favor a Lei 8078/90. Por outro lado, está igualmente implícita no contrato de transporte aéreo de passageiros a cláusula de segurança ou incolumidade, porquanto, ela é inerente ao contrato. Aliás, como ensina José de Aguiar Dias, “quem utiliza um meio de transporte regular celebra com o transportador uma convenção cujo elemento essencial é a incolumidade, isto é, a obrigação, para o transportador, de levá-lo são e salvo ao lugar de destino”.40 Todas as empresas concessionárias de serviços públicos de transporte aéreo de passageiros obrigam-se a prestar serviço adequado e satisfazer às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia, conforme definido em atos normativos da ANAC e constantes na legislação geral em vigor. Não se pode também negar que o serviço de transporte aéreo no Brasil é determinado por fatores de concentração geográfica, influenciado por indicadores sociais. A universalização do serviço foi sacrificada por uma desproporcional cobertura de infraestrutura ao longo do território nacional; portanto, a complexidade do setor aéreo se ressente de um acompanhamento constante e de um planejamento em níveis estratégicos e operacionais. O crescimento da demanda saturou a infraestrutura e muitos aeroportos já operam acima da sua capacidade. Por isso, importa também reconhecer que as companhias áreas exercem uma atividade e se beneficiam dela, devendo responder pelo ônus da má execução dos serviços. Assim, a par da teoria do risco e de um alcance limitado das convenções internacionais, é que não há mais dúvida quanto à incidência das regras que determinam a responsabilidade civil objetiva do transportador aéreo. Referências BRAGA, Luiz Gustavo Thadeo. Caos aéreo: responsabilidade do Estado em face dos atrasos e cancelamentos de voos. Consulex, Revista Jurídica, ano 11, nº. 249, maio, p. 26-31, 2007. BRASIL. Resolução nº. 037 de 07 de agosto de 2008. Dispõe sobre a atualização dos limites de indenização do que trata o Titulo VIII do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBAer. Disponível A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, os seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 40 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 185. 39 124 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO: UMA BREVE ANÁLISE SOB O ASPECTO DO CONFLITO DE NORMAS. em: <http://www.anac.gov.br/biblioteca/resolucao.asp> Acesso em: 03 maio 2015. ______. Lei nº. 11.182, de 27 set. 2005. Cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências. ______. Lei nº. 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. ______. Lei nº. 7.565 de 19 dez.1986. Código Brasileiro de Aeronáutica (Substitui o Código Brasileiro do Ar). CAVALCANTI, André Uchôa. Responsabilidade civil do transportador aéreo: tratados internacionais, leis especiais e Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1995. FARES, Ali Taleb. Novo panorama da responsabilidade civil no transporte aéreo. Disponível em: <http://www.sbda.org.br/artigos/Anterior/1731.htm>. Acesso em: 22 nov. 2008. FERRAZ, Renée Baptista; OLIVEIRA, Alessandro Vinícius Marques de. A estratégia de overbooking e sua aplicação no mercado de transporte aéreo brasileiro. Disponível em: <http:// www.nectar.ita.br>. Acesso em: 13 mar. 2009. p. 09. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2013. GRASSI, Roberto Neto. Crise no setor de transporte aéreo e a responsabilidade por acidente de consumo. In: Xvi Congresso Nacional Do CONPEDI. Anais Eletrônicos... Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/roberto_grassi_neto.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2008. LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2001. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24. ed. rev. e atual. até a emenda constitucional 55 de 20.9.2007. São Paulo: Malheiros, 2007. MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Atlas, 2006. PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006. PEREIRA, Guttemberg Rodrigues. Conferência de Direito Aeronáutico 18 a 28 de maio de 1999 – Montreal, Canadá - Convenção para unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional. Revista Brasileira de Direito Aeroespacial. Disponível em: <http://www.sbda. org.br/artigos/Anterior/07.htm >. Acesso em: 19 mar. 2009. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2004. 125 Artigo 9 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” 1 Mara Angelita Nestor Ferreira2 Resumo Neste artigo, pretende-se abordar, de maneira sucinta, a interpretação do filosofo Carl Schmitt, importante pensador do século XIX, através da análise do texto “O conceito de Político”, onde, além de trazer novas categorias, também pretende avistar as modificações ocorridas no decorrer do tempo e provocar a reflexão acerca do estabelecimento de outros marcos para o binômio amigo-inimigo. Palavras Chave: Carl Schmitt; Teoria do Partisan; conceito de político. Abstratc In this article, it intends approach, in way sucinta, the interpretation of the philosopher Carl Schmitt, a leading thinker of century XIX, through the analysis of the text “The concept of the Political”, where in addition to bringing new categories, also plans to catch sight of the modifications occurred over time and cause reflection on the establishment of other milestones for the binomial friend-enemy. Key words: Carl Schmitt; Partisan theory; Political concept. 1Introdução Efetivamente, o mundo mudou! Mudou e muda com tanta velocidade que fica difícil manter-se atualizado diante de tanta novidade. Nada mais permanece – não há tempo para consolidação, o envelhecimento ocorre antes mesmo da preensão das estratégias. Corolário, aprender com as experiências buscando balizar-se em direção ao movimento futuro é pouco recomendável, já que práticas anteriores não dão conta de responder às necessidades de mudanças rápidas e, quase sempre, imprevisíveis. Nesse cenário, realizar análise de tendência baseada em dados do passado é uma temeridade. Toda essa situação de instabilidade e, aparente desordem, direciona a vivência diária orientada por valores outros – voláteis, egoísta e hedonistas. Tudo porque se vive na sociedade líquido-moderna3, de tempos, de amor, de vida, de modernidade fluída. Tais mudanças repercutem no entendimento de conceitos bem sedimentados, trazidos por outras épocas, carecendo de necessária releitura, de forma a absorver ditas alterações. SCHMITT, Carl. O conceito de político – teoria do partisan. Belo Horizonte. Del Rey, 2008. Texto escrito por Carl Schmitt e publicado em 1832, foi um jurista, filósofo político e professor da Universidade de Colonia, Alemanha. Este curto ensaio de Schmitt, é um dos grandes clássicos da filosofia política contemporânea, surgiu originalmente de uma conferência proferida na Deutsche Hochschuhle für Politik em Berlim por ocasião de um ciclo de conferências dedicado ao problema da democracia, sendo publicado com o título “Der Begriff des Politischen”. 1 Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Advogada da Companhia Paranaense de Energia. Professora da Faculdade Dom Bosco 3 Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. (BAUMAN, Zigmunt. Vida líquida. (trad. Carlos Alberto Medeiros) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005). 2 126 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” O presente trabalho, além de trazer a visão específica e pontual de Carl Schmitt acerca do conceito de “político”, pretende avistar as modificações ocorridas no decorrer do tempo e provocar a reflexão acerca do estabelecimento de outros marcos para o binômio amigo-inimigo, para além do texto original. Lança-se mão, para tanto, de algumas obras de Zigmunt Bauman4, onde o autor conduz à diversas possibilidades de mediações diante da nova realidade posta, caracterizada pela efemeridade, versatilidade, insegurança, enfim, àquelas peculiares à fluidez líquido-moderna. Também, traz uma abordagem da mudança refletida na sociedade, que de produtores transformou-se em sociedade de consumidores, os indivíduos se tornaram ao mesmo tempo, promotores de mercadoria e a própria mercadoria que promovem, habitando o espaço social denominado de “mercado” O Conceito de político segundo Carl Schmitt Escrito em 1932, o texto tem caráter didático e busca uma tópica para seus conceitos (enquadramento teórico). Não partiu, segundo seu autor, de definições intemporais, mas de critérios: relação e posição recíproca dos conceitos estatal e político versus guerra e inimigo. Carl Schmitt esclarece que o conceito de Estado pressupõe conceito de político, que se constitui status de um povo organizado numa unidade territorial. Os sinais característicos da representação de Estado adquirem sentido mediante o marco do político, que pede distinção. A noção do político é dada apenas como antítese, ou seja, negativamente e em contraposição a diversos outros conceitos, como política e economia, política e moral e no Direito, política e Direito Civil. Não oferece uma determinação do que seja específico. Em geral “político” é equiparado a alguma forma de “estatal” ou, pelo menos, relacionado ao Estado. O Estado surge então, como algo político, o político, porém, como algo estatal – circulo que não se satisfaz. Na literatura jurídica encontram-se muito as paráfrases do político, que devem ser compreendidas a partir do interesse prático-técnico da decisão jurídica ou administrativa de casos particulares - pressupõe uma forma não problemática de Estado existente. Assim, há uma jurisprudência e literatura acerca do conceito de “associação política” ou de “assembleia política”, no direito de associação. Tais determinações não visam a definição do político como tal. Saem-se bem enquanto o Estado e as instituições puderem ser pressupostos como algo evidente e sólido. A equivalência do Estatal e Político mostra-se incorreta e enganosa, na mesma medida em que Estado e sociedade se interpenetram, todos os assuntos até então políticos, tornam-se sociais e vice-versa, assuntos até então apenas sociais (não-estatais) tornam-se estatais, como ocorre, necessariamente, em uma coletividade democraticamente organizada. Áreas até então neutras – religião, cultura, educação, economia – perdem essa conotação no sentido de não estatal e não político. Exemplo mais radical dessa equivalência ocorre no Estado Total: tudo é político e a referência ao Estado não mais consegue fundamentar um marco distintivo específico do “político”. Essa transformação vai do Estado Absoluto, do século XVIII, passa pelo Estado Neutro, do sécu4 Sociólogo polonês, professor emérito de Sociologia das Universidades de Leeds e Varsóvia. 127 Artigo 9 lo XIX, até ao Estado Total, do século XX. A Democracia revoga as distinções e as despolitizações típicas do século XIX, liberal, e, ao apagar a oposição entre Estado-Sociedade (político oposto ao social), contribui para o desaparecimento das contraposições e das separações que correspondem à situação do século XIX – religioso como oposto ao político, cultural, econômico, jurídico, científico. Pensadores mais profundos do século XIX perceberam tal situação prematuramente: Burckhardt, em 1870, afirmou sobre a Democracia: “para ela o poder do Estado sobre o indivíduo jamais é suficientemente grande, de modo que ela apaga os limites entre Estado e Sociedade, atribui ao Estado tudo aquilo que a sociedade provavelmente não fará...”5. A doutrina alemã do Estado não renunciou de saída à ideia de que o Estado frente à sociedade é algo de distinto e de superior. A confusão que ocorre no âmbito dessa equivalência pede a distinção entre amigo-inimigo, critério do político. Uma determinação conceitual do político requer identificação das categorias especificamente políticas. O político tem critérios próprios frente aos domínios diversos e relativamente independentes do pensamento e do agir humano, especialmente o moral (bom e mau), o estético (belo e feio) e o econômico (útil e prejudicial). O que move o político é a distinção entre amigo-inimigo – grau de ligação teórica sem necessidade de se valer de outras categorias. Fornece um critério, não como definição exaustiva ou especificação de conteúdos. Essa diferenciação pode subsistir, sem a necessidade de dizer acerca do inimigo, que ele seja moralmente mau, esteticamente feio ou que é concorrente econômico. O inimigo político é justamente o Outro, o estrangeiro – bastando que ele seja existencialmente Outro e estrangeiro, de modo que exista a possibilidade de conflitos. Tais conflitos não podem ser decididos mediante normatização geral previamente estipulada, nem pelo veredicto de um terceiro “desinteressado” (imparcial), uma vez que não há como julgar senão participando (interesse existencial), na medida em que cada um tem de decidir por si mesmo. Dessa forma, psicologicamente, o inimigo passa a ser tratado de mau, feio, entre outros, pois a política (forte e intensiva) pede auxílio às demais. Os conceitos de amigo-inimigo não podem embaralhar outros, mas entendidos no sentido concreto existencial, pois, os povos se agrupam sob o signo amigo-inimigo, onde o inimigo não é concorrente ou adversário particular – é público, é o antagonismo. Inimigo é um conjunto de homens, pelo menos eventualmente, isto é, segundo a possibilidade real, “combatente”, que se contrapõe a um conjunto semelhante; o inimigo é “hostil”. O antagonismo político é a mais intensa e extrema contraposição e qualquer antagonismo concreto. É tanto mais político quanto mais se aproximar do ponto extremo, do agrupamento amigo-inimigo. O Estado, ao lado das decisões primariamente políticas e sob a proteção das decisões tomadas, produz numerosos conceitos “secundários” de “político”, ocasionando, por exemplo, que se contraponha uma “política de Estado” a uma “política partidária” e que se possa falar de uma política religiosa, escolar, comunal, social, entre outras. Desenvolvem-se espécies ainda mais atenuadas de “política”, chegando ao “parasitário” e caricaturalmente de5 BURCKHARDT,Jacob. Reflexões sobre a História. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1961, p. 62. 128 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” formado, nas quais resta apenas, do originário agrupamento amigo-inimigo, algum momento antagonista que somente se expressa em táticas e práticas de todo tipo, concorrências e intrigas, designando os mais bizarros negócios e manipulações denominadas também “política”. Nessas referências concretas encontra-se a essência das relações políticas, que se expressam pelo uso corrente da linguagem, produzindo dois fenômenos imediatamente constatáveis: I) Todos os conceitos, representações e palavras políticas têm um sentido “polêmico”, cuja consequência extrema é um agrupamento amigo-inimigo (manifestado na guerra ou revolução) e se transformam em abstrações vazias e fantasmagóricas quando essa situação é esquecida. Palavras como Estado, República, sociedade, classe, soberania, Estado de Direito, absolutismo, ditadura, planejamento, Estado Neutro ou Total, etc, são incompreensíveis quando não se sabe quem, em concreto, deve ser atingido, combatido, negado ou refutado com tal palavra. O caráter polêmico rege, sobretudo, também o próprio uso linguístico da palavra “político”, quer se coloque o adversário como “apolítico”, quer se queira pelo contrário, desqualificá-lo e denunciá-lo como político; II) Na polêmica diária intra-estatal “político” é empregado como “político partidário”, contribuindo para que a distinção amigo-inimigo imanente a todo comportamento, seja reducionista, propondo uma despolitização, que só é possível quando se relativize todos os partidos intrapolíticos. No entanto, quando os antagonismos intra-estatais assumem maior intensidade, ou seja, agrupamentos amigo-inimigo intra-estatais, não de política externa, estão presentes às condições necessárias para o confronto armado, a guerra civil – a possibilidade de luta que sempre deve estar presente para que se possa falar de política refere-se, por conseguinte, a tal “primado da política interna”, não mais à guerra entre povos, organizados em unidades políticas (Estados e impérios). Segundo Carl Schmitt6, a guerra pode ser a luta armada entre duas unidades políticas organizadas (guerra externa) e a luta armada no interior de uma unidade política (guerra civil), que se torna mais problemática. Entenda-se luta armada como a eliminação física de pessoas e, portanto, os conceitos de amigo-inimigo adquirem seu real sentido pelo fato de terem e manterem primordialmente uma relação com possibilidade real de aniquilamento físico, não bastando o combate de ideias ou simbólico. A negação ontológica do outro “ser” é a realização extrema da inimizade e deve permanecer presente como real possibilidade, enquanto o inimigo tiver sentido. Todavia, não se pode considerar a ação política como ação militar, pois, a definição do político não é belicista, nem militarista, imperialista ou pacifista. Na guerra, a decisão política já definiu quem é inimigo (uniforme) e que o político estaria mais preparado do que o soldado para essa tomada de decisão, já que a distinção amigo-inimigo na guerra deixa de ser um problema político que deve ser resolvido pelo soldado em combate. A guerra não é fim e objetivo, não é sequer conteúdo da política, porém, é o “pressuposto” sempre presente como possibilidade real, a determinar o agir e o pensar humanos de modo peculiar, efetuando assim, um comportamento especificamente político. 6 SCHMITT, Carl. O conceito de político – teoria do partisan. Belo Horizonte. Del Rey, 2008 129 Artigo 9 O critério da distinção amigo-inimigo não significa, portanto, que determinado povo deva sempre ser amigo ou inimigo de outro, como também não significa que neutralidade não possa ter sentido, politicamente. Mas, o conceito de neutralidade implica no pressuposto extremo da real possibilidade de um agrupamento amigo-inimigo e se na terra houvesse apenas neutralidade, acabaria não somente a guerra, como também a própria neutralidade. Com a política acontece o mesmo, deixa de existir e não existe mais possibilidade de luta. O fator determinante é a real possibilidade e eventualmente, a decisão assim tomada para o combate real concede à vida das pessoas uma dimensão política. Um mundo pacificado, sem a distinção entre amigo e inimigo, seria um mundo sem política. Não se questiona acerca do que é desejável, bom e ideal em um mundo sem política. O fato é que o fenômeno político só pode ser compreendido mediante referencia a real possibilidade do agrupamento amigo-inimigo. Nada pode escapar a essa consequência do político. Se a oposição pacifista contra a guerra se tornasse tão intensa a ponto de os pacifistas travarem uma guerra contra a guerra, comprovar-se- ia que ela realmente tem força política, por ser suficientemente forte para agrupar os homens no binômio amigo-inimigo. O político não reside na luta em si, mas no reconhecimento de sua situação amigo-inimigo. Realizar guerra por motivos morais, religiosos é contrassenso, apesar dos mesmos serem utilizados para sua efetivação, mesmo porque, toda contraposição moral, econômica, religiosa se transforma numa contraposição política se tiver força suficiente par agrupar as pessoas. O Estado tem a capacidade de determinar seu inimigo e combatê-lo, sendo que a técnica e os meios de ação não interessam à dimensão política. O mundo moderno desenvolveu formas de agrupamento e criou outras novas – visando a possibilidade de fazer guerra e de dispor sobre a vida dos homens dessa unidade política (guerra externa), com vistas a manter a paz e ordem. Observe-se que também determina o inimigo interno. Tal situação ocorre em razão de que o político pode extrair sua força de vários setores da vida humana; corolário, num primeiro momento essa força de contraposição não política (moral), passa da condição de secundária para primordial, uma vez que assume a dimensão política. O Estado, por sua vez, não pode ser colocado na mesma condição de outras associações, pois, tem unidade normativa diferente das demais associações que não pode ser transferida, sob pena de renunciar à unidade política, pois, a guerra justa se constitui na finalidade política. Mesmo que não haja interesse em realizar a guerra, deve-se distinguir amigo-inimigo – caso contrário será colocado na mesma dimensão do inimigo. A tomada de decisão e a designação do inimigo constituem o papel do político – o fato do povo não querer estar na esfera do político, não faz o político desaparecer de cena, mas torna o povo fraco. A partir do político derivam consequências pluralistas, uma vez que o mundo não é uma unidade política, mas sim, um pluriversum político, já que a unidade política pressupõe a possibilidade real do inimigo e, consequentemente, outra unidade política coexistente. Não há possibilidade de um Estado mundial englobar todos os povos, eis que a humanidade não pode fazer guerras em razão de que não tem inimigo. No entanto, guerras podem ser efetivadas em nome 130 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” da “humanidade”’ - alguém se apropria da legitimidade de defender a humanidade em nome de todos, utilizando essa terminologia como instrumento ideológico, pois quem diz humanidade pretende enganar, já que “humanidade” não é um conceito político. A falta de capacidade para diferenciar o inimigo é sintoma do término da dimensão do político, até porque, poderiam ser examinadas questões de todas as teorias do Estado e ideias políticas com correspondente corrente antropológica, pois, a partir desse traço fundamental da natureza humana surge o fundamento para toda vida política. Schmitt7, considera o liberalismo como o responsável pela desnaturalização de todas as representações políticas, uma vez que em todo mundo os liberais se uniram e fizeram política. Faz referência, via de regra, à luta política interna contra o poder estatal, oferecendo métodos para controlar o poder do Estado visando à proteção da propriedade privada. O pensamento liberal ignora/desconfia do Estado e da política, sendo explicado a partir de princípios – todo estorvo à liberdade individual e à propriedade é tida como violência. O Liberalismo permite ao Estado atuar reduzidamente em relação às condições de liberdade, através de sistema completo de conceitos despolitizados. Da dominação do poder surge a propaganda e sugestão de massa (espiritual) e controle (econômico), tudo para submeter o Estado e a política ao Direito Privado. O mesmo autor8 demonstra o pseudo progresso da humanidade no transcorrer dos séculos – no século XVIII, o aperfeiçoamento intelectual e moral; no século XIX, a dialética de Hegel e antíteses de Marx, indagam acerca da evolução da humanidade: foi efetiva? As oposições econômicas se tornam políticas demonstrando que o ponto político é atingível a partir da economia. No entanto, é equivoco acreditar que a posição política pode ser conquistada graças à supremacia econômica, em razão de que o Imperialismo, fundado economicamente, pode promover um estado de coisas onde seja possível aplicar os meios e entraves por intermédio do poder econômico. A forma de atuação não é belicosa, já que não pega em armas, entretanto, se utiliza de meios coercitivos apolíticos, como embargo, sanção, entraves, e outros. Contudo, mantém um discurso pacifista: não chama o adversário de inimigo e só é levado à guerra para defesa de seu poder econômico. Utiliza-se de propaganda sob o ícone da “última guerra da humanidade”, com pecha de “para o bem da humanidade”. Apesar de aparentemente, considerado apolítico, resta por servir ao agrupamento de amigo-inimigo e daí, ao final, não consegue escapar da consequência natural do político. Por isso, na era das neutralizações e despolitizações, faz-se mister tomar consciência da realidade presente a partir do regate histórico através dos quatro passos - teológico, metafísico, humanitário moral e econômico. Somente se pode entender a partir desses centros, pois há alternância na condição de dominação mundial. As neutralizações e despolitizações decorreram dessa superação paradigmática, diante da sua insuficiência frente à concreta realidade. 7 8 Op. Cit. Idem. 131 Artigo 9 O Estado - nação É comum afirmar que o nascimento da ideia de nação ocorreu nos séculos XIV e XV, durante a Guerra dos Cem Anos, entre a França e a Inglaterra, quando os ingleses e franceses, após todos os combates, teriam se identificado como povo e, a partir daí, teriam constatado a necessidade de se constituírem em uma comunidade politicamente organizada. Entretanto, o primeiro Estado Nacional que surgiu foi o Português, no século XIII, patrocinado pela rica Burguesia comerciante de Lisboa; já o surgimento do Estado Nacional Alemão e Italiano se deu no século XIX, diferentemente das bases anteriores à era Moderna, quando a garantia à união e coesão da sociedade eram ligações de cunho religioso – como no caso da Idade Média - ou de dominação e subjugação – do Império Romano. Diante da situação posta, buscou-se um novo modo de explicar o surgimento do conceito de nação: a Burguesia estava interessada em encontrar meios suficientes de livrá-la das lutas religiosas e dinásticas, atreladas às ambições de conquista de seus governantes. Sob tais circunstâncias, foi indispensável a disseminação de ideologia que legitimasse a soberania popular contra os arbítrios do monarca. Mas, para a efetivação da soberania popular, foi imprescindível o aparecimento de um símbolo de unidade do povo, destinado a reuni-lo (mesmo que pela via emocional), em favor da luta contra o Absolutismo e pela institucionalização de lideranças. Esse elo que pretendeu a unidade do povo assumiu seus contornos através do conceito de nação, criado artificialmente e vastamente explorado no século XVIII pela Burguesia, conduzindo-a ao poder político. Daí, a disseminação da ideia de que era em nome da nação que se lutava contra a Monarquia Absoluta, tornando o processo justo, posto ser fundamental que o povo assumisse o seu próprio governo. No entanto, com o advento da Revolução Francesa e da Revolução Americana, a nação cedeu espaço ao governo do Estado – a nação passou a ser identificada com o próprio Estado. Corolário, no transcorrer dos séculos XIX e XX ocorreu o florescimento da corrida imperialista e movimentos maculados pelo sentimento nacionalista, que em nome da grandeza das nações, eclodiu em duas guerras mundiais de consequências trágicas. Foi naquele contexto que se formou o Estado - Nação: entidade política com unidade territorial e pretensão de identidade cultural. Com efeito, a nação constituiu-se em instrumento principal do Estado, na sua luta pela soberania sobre o território e sua população9. Nesse mesmo viés, Carl Schmitt propõe em sua obra, que o conceito de Estado pressupõe conceito de político - status de um povo organizado em uma unidade territorial, sendo fundamental a necessidade de definir quem é o inimigo – sendo esse um conjunto de homens com possibilidade real para o combate. Crise do Estado - nação e mundialização do capital Segundo Zygmunt Bauman, o mundo está passando por transformações sem precedentes – da fase “sólida” para a “líquido-moderna”10. Na era líquido-moderna, as organizações não 9 10 BAUMAN, Zigmunt. A modernidade líquida. (trad. Plínio Dentzien) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 211. BAUMAN, Zigmunt. Tempos líquidos. (trad. Carlos Alberto Medeiros) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 08. 132 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” podem mais manter sua forma por muito tempo, pois, tudo é muito fluido, a vida é precária, as estratégias existenciais são de curto prazo, destinadas a um projeto de vida individual. O Estado, que antes era visto como agente que detinha os recursos necessários para impor regras e normas destinadas a regular o rumo das coisas dentro de determinado território, sofre alterações consideráveis: a política global baseada no poder soberano dos estados, ainda que divididos em blocos antagônicos, tendo como meta a soberania, sucumbe diante da era das incertezas. Ocorre a separação entre política e poder, quando este último, disponível ao Estado moderno, migra para a direção do espaço global e até extraterritorial, “politicamente descontrolado, enquanto a política – a capacidade de decidir a direção e o objetivo de uma ação – é incapaz de operar efetivamente na dimensão planetária, já que permanece local”11. Corolário falta de controle político gera profunda incerteza, enquanto a falta de poder torna as instituições políticas existentes irrelevantes para os problemas dos cidadãos, encorajando o Estado a terceirizar um volume considerável de funções estatais. Outra alteração importante trazida pelos tempos líquidos refere-se à retração da segurança da ação coletiva – a dimensão da “comunidade” como forma de referência à totalidade da população que habita o território soberano do Estado dilui-se diante da fragilidade dos laços intersubjetivos que antes serviam de sustentáculo para balizar o sacrifício de interesses individuais. Atualmente, a “exposição dos indivíduos aos caprichos dos mercados de mão-de-obra e de mercadoria inspira e promove a divisão e não a unidade”12. Com a mundialização do capital inicia-se o definhamento do Estado-Nação diante da organização de empresas supranacionais, cujo objetivo precípuo é aumentar os lucros. Se antes a política produzia uma imagem da totalidade – ordem global das coisas (a formação de dois blocos de poder – nada fugia ao controle desses dois blocos), onde o conceito de ordem era “estar no controle”, hoje, verifica-se uma desordem mundial, um campo de forças díspares onde ninguém e, ao mesmo tempo, alguns estão no controle. Atualmente, o Estado não mais controla, eis que abalado no seu tripé – exceto policiar o território e a população, uma vez que os mercados financeiros impõem suas próprias regras, as quais são seguidas inclusive pelos governos13, sob pena de entrarem em colapso diante das pressões mercadológicas, que dirá controlar politicamente, a ação mercadológica. Surgida na década de 1980, a palavra “globalização” significou para os grandes industriais, ter consciência de seus interesses comuns e cooperar uns com os outros. Nesse contexto, Bauman considerou – os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, cujo objetivo era criar e/ou aumentar a zona de exclusão em todas as dimensões humanas14. BAUMAN, Zigmunt. Tempos líquidos. (trad. Carlos Alberto Medeiros) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 08. Op. cit. p. 09. 13 Relacionados a conceitos de Estado mínimo, reforma administrativa do Estado, etc. 14 BAUMAN, Zigmunt. Globalização: consequências humanas. Trad. Marcus Penchel. Rio de J aneiro: Jorge Zahar, 1999. 11 12 133 Artigo 9 Bonavides (1999) coloca que: A globalização econômica coloca o capitalismo outra vez na selva. Do estado de natureza ele sairá tão-somente pela artéria da globalização política se esta assumir a feição democrática. A sociedade sem lei, onde, já uma vez, o capitalismo imperou, ao ensejo da chamada revolução Industrial, se reproduz, por analogia, na sociedade global contemporânea, ou seja, com a globalização, conceito tão em voga no vocabulário da economia contemporânea.15 Há afirmações no sentido de que o modelo econômico que se prestou à proliferação de conceitos ligados à globalização foi o Neoliberalismo, o qual, apesar da disseminação política e ideológica, persiste o entendimento de que o Neoliberalismo não objetiva a globalização política, com meta(s) disfarçada(s): [...] o Neoliberalismo não se ocupa da globalização política; deixa o tema submerso no esquecimento e omissão. ... Mas ela – a globalização oculta, invisível e dissimulada do Neoliberalismo – também já se pôs em marcha, de forma indireta, silenciosamente, subrepticiamente, empurrada pelas forças do próprio capitalismo, de uma mídia internacional, de seus teoristas neoliberais, que constroem a doutrina da decadência e abolição dos conceitos clássicos de Estado, Nação e Soberania.16 A ideia nuclear propalada consiste na adoção desse modelo neoliberal como a única alternativa de sobrevivência para os estados modernos, mesmos à custa de muitos sacrifícios dos cidadãos, já que “a globalização é ainda um jogo sem regras; uma partida disputada sem arbitragem, onde só os gigantes, os grandes quadros da economia mundial, auferem as maiores vantagens e padecem os menores sacrifícios”17. Henderson (2003) entende que a globalização move-se através de duas correntes18: i) a primeira é a tecnologia, que acelera a inovação, a computação as fibras óticas os satélites e outros meios de comunicação; ii) a segunda é fruto de um processo de desregulamentação dos mercados globais, privatização, liberalização dos fluxos de capitais, abertura das economias, enfim, a pratica de um paradigma econômico promovido pelos Estados Unidos, Banco Mundial e Fundo Monetário Nacional. Em citação à obra do sociólogo espanhol Manuel Castells, Henderson (2003) transcreve a seguinte declaração: 15 16 17 18 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial. Malheiros: São Paulo, 1999. p. 140. Ibid., p. 141. BONAVIDES, op.cit., p. 139. HENDERSON, Hazel. Além da globalização. São Paulo: Cultrix, 2003, p. 51. 134 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” Um novo mundo está se formando neste final de milênio. Ele se origina na coincidência histórica, em torno do final dos anos 60 e meados dos 70, de três processos independentes, a revolução da tecnologia da informação, a crise econômica tanto do capitalismo quanto do estatismo e suas subsequentes reestruturações; e o surgimento de movimentos culturais e sociais, tais como a doutrina do livre-arbítrio, os direitos humanos, o feminismo e o ambientalismo.... as interações entre esses processos e as reações que eles provocaram fizeram surgir uma nova e dominante estrutura social, a sociedade de rede ... e a nova economia global da informação bem como um nova cultura19. Essas redes de mercados criadas a partir da globalização desencadearam o aumento das desigualdades, ampliando a distância entre países ricos e pobres: surgiu uma nova divisão política – os ricos em informação (info-ricos) e os pobres em informação (info-pobres), com o consequente aumento geral da pobreza mundial. Muitas características da mundialização do capital mantêm as características peculiares de épocas anteriores ao Capitalismo, contudo, o conteúdo da acumulação de capital e seus resultados são bastante diversos “ o capitalismo parece ter triunfado e parece dominar todo o planeta, mas os dirigentes políticos, industriais e financeiros dos países do G7 cuidam de se apresentarem como portadores de uma missão histórica de progresso social” 20.” Depara-se com o Estado impotente - o Estado pode tudo desde que não toque na economia sob pena de punição dos mercados mundiais, mesmo porque, é objetivo dos Estados manter orçamento equilibrado, quer por opção ou imposição do FMI ou Banco Mundial. A globalização vive de Estados fracos, eis que a fragmentação política viabiliza sua própria implementação. Quem está fora deve promover mudanças para se adaptar. Por exemplo, tecnologicamente, a globalização é tida como processo benéfico e necessário. Outras alterações são requeridas: adaptar-se às estratégias das multinacionais, que pressupõem a desregulamentação e a liberalização, chegando a tratar a globalização como sinônimo de comércio exterior. Economicamente, deve adaptar-se às imposições naturais do mercado financeiro, em que os mercados financeiros sinalizam aos governos; já o oligopólio mundial não se constitui em uma zona tranquila, mas sim, de concorrência acirrada e rivalidade industrial, mas também de colaboração. O objetivo é manter a situação de dominação, reafirmando a polarização interna uma vez que diante do binômio oligopólio mundial-periferia, não mais se fala em opressores e oprimidos como na era imperialista, mas, são áreas de pobreza com peso morto – emigrantes ameaçam os chamados países democráticos. As relações de trabalho devem se adaptar diminuindo a gordura de pessoal, através da flexibilização da relação empregatícia e desmantelamento dos sindicatos. As grandes empresas não precisam se deslocar em grandes distâncias para implementar suas atividades. Graças a essas modificações, torna-se factível a manutenção do status quo do mercado financeiro, a pos19 20 Ibid., p. 52. CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996, p. 14. 135 Artigo 9 sibilitar a construção de zona de baixos salários e reduzida proteção social, tudo em nome da civilização mundializada, onde a produção de meio padrão para a valorização do capital, o nivelamento da cultura e homogeneização, tornam o sentimento de coletividade sem conteúdo. Falar-se em mundialização do capital significa falar em capacidade estratégica de um grande grupo oligopolista em adotar uma conduta global que lhe favoreça, contribuindo para a desregulamentação e interligação dos mercados mundiais. Mas, não são todos os países (globais) que interessam ao capital, somente aqueles que lhe favorecem economicamente - os que não interessam ao capitalismo são excluídos do círculo de exploração. Transmite-se, propositadamente, a ideia de que a riqueza, é global e a miséria, é local. Bauman cita Ryszard Kapuscinski para demonstrar como os meios de comunicação se utilizam de estratégias subliminares para disseminar assertivas de que os próprios pobres são responsáveis pela sua pobreza; que a pobreza é restrita ao conceito de fome ou ainda, a parte desenvolvida do globo monta um muro para separar tudo que é ameaçador, dando a ideia de que o que é ruim está longe. Como consequência, nega-se o direito de migração – da fome para a comida. Re- significação do conceito amigo-inimigo Se, como exposto por Carl Schmitt, para o estabelecimento do critério do político há necessidade de distinção entre amigo-inimigo, essa distinção era mais fácil na época em que o texto foi escrito, pois, estava em vigência o modelo de Estado-Nação, constituído por unidade territorial, Estado forte, nacionalista, buscando a defesa de seus interesses enquanto nação ou reconhecimento de sua supremacia diante das demais nações. A situação atual é menos confortável, pois a globalização21 trouxe a “nova desordem mundial” - não tem sede, não tem escritório, não tem uniforme militar, unidade territorial (nação), não tem língua oficial, uma vez que o estabelecimento das empresas sem nacionalidades é interessante economicamente – seus interesses são supranacionais. Atualmente, o estilo de acumulação se dá pela centralização de capitais financeiros – daí que a esfera financeira é que comanda a repartição e a destinação social dessa riqueza, ou seja, nenhuma. Na realidade, refere-se ao capital virtual que se movimenta segundo mecanismos próprios – transferência efetiva de riqueza para a esfera financeira, aliada à dívida pública e políticas monetárias. O capital monetário é nervoso – sua movimentação se dá de acordo com o mercado financeiro. Corolário, a movimentação governamental é restrita e se realiza em conformidade com esses mercados, cujas bases são altas taxas de juros e inflação zero, ditando inclusive, a conduta das empresas. Para fazer o “mercado girar” é necessário que o consumo se perpetue, ou seja, a vida líquida é uma vida de consumo22 – projeta o mundo e todos como objetos de consumo, que perdem a Prefere-se o uso do termo globalização ao invés de mundialização em razão da mensagem ideológica que o termo mundialização carrega, já que o globo não dá a dimensão exata do mundo (inglês e francês), lembrando ainda que globalização pressupõem a existência de um centro com uma periferia. 22 BAUMAN, Zigmunt. Tempos líquidos. (trad. Carlos Alberto Medeiros) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007. 21 136 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” utilidade enquanto são usados, possuindo limitada expectativa de vida útil. Uma vez ultrapassado esse limite, tornam-se impróprios, devendo ser substituídos. Por isso, Bauman afirma que “para se livrar o embaraço de ser deixado para trás, de ficar preso a algo com o qual ninguém mais quer ser visto, de ser pego cochilando e de perder o trem do progresso em vez de viajar nele, você deve ter em mente que é da natureza das coisas exigir vigilância, não lealdade. No mundo liquido-moderno, a lealdade é motivo de vergonha, não de orgulho”23. Afinal, na sociedade dos consumidores, ninguém pode deixar de ser um objeto de consumo e a não satisfação dos desejos que permitam à sociedade de consumo continuar existindo, movimentando o mercado e a indústria de consumo. “A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. Uma forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de consumo logo depois de terem sido alcançados ao universo dos desejos do consumidor”24. Aliás, trata-se de forma eficaz de dissimular o método utilizado para manutenção da sociedade de consumo: satisfazer as necessidades humanas de maneira a provocar outras. Dizer sociedade de consumo é ir além da mera observação passiva da realidade fática de que consumir é agradável, uma vez que, esconde ou dissimula a verdadeira necessidade a ser satisfeita pelo homem: é afirmar que o ambiente social segue orientado pela síndrome consumista, onde a “política de vida”, que contém a Política com “P” maiúsculo, assim como a natureza das relações interpessoais, tende a ser remodelada à semelhança dos meios e objetos de consumo e segundo as linhas sugeridas pela síndrome consumista”25. Considerações finais Percebe-se que diante das alterações trazidas pelos ventos dos tempos líquido-modernos, ocorreu uma separação entre política e economia, quando existe a tendência de proteger a economia de uma intervenção política estatal. A insegurança é a marca desses tempos líquido-modernos, sobretudo, nas grandes cidades onde os mecanismos de proteção aos menos favorecidos, somados aos efeitos incomensuráveis e descontrolados produzidos pela globalização, restou por originar um ambiente inseguro por definição. Aliás, “construídas para fornecer proteção a todos os seus habitantes, as cidades hoje em dia se associam com mais freqüência ao perigo que à segurança”26. Bauman afirma que é no medo que se baseia a legitimidade da política contemporânea diante da incapacidade de atingir o núcleo global dos problemas que afetam a civilização atual. Assim, a sociedade dos produtores está encerrada, pelo menos em parte do globo, e foi substituída pela sociedade de consumidores, sendo que o novo habitat natural dos consumidores é o mercado - lugar destinado a comprar e vender, representados pelos Shoppings Centers, ruas com mercadorias de grifes expostas com o objetivo de dotar o público do seu pseudo valor. 23 24 25 26 Op. cit., p. 17. Op. cit. p. 106. Op. cit. p. 109. Op. cit. p. 138. 137 Artigo 9 Na sociedade atual, o indivíduo deixou de ser cidadão em sua essência e foi transformado em consumidor, propositalmente. Nesse sentido, Bauman esclarece em sua obra, sobre o papel da educação, da capacitação e do processo de aprendizagem, os quais se constituem em instrumentos destinados a retomar a reflexão na sociedade e a conscientização acerca da cidadania. Não se trata apenas de adaptar as habilidades humanas ao ritmo acelerado da mudança mundial, mas, busca tornar o mundo em rápida mudança, mais hospitaleiro para a humanidade27. Citando Henry A. Giroux e Susan Giroux, Bauman traz a seguinte passagem: A democracia está em perigo quando os indivíduos são incapazes de traduzir sua miséria privada em preocupações públicas e ação coletiva. Como as corporações multinacionais moldam cada vez mais os conteúdos da maior parte da grande mídia, privatizando o espaço público, o engajamento cívico parece cada vez mais impotente e os valores públicos tornam-se invisíveis. Para muitas pessoas hoje em dia, a cidadania foi reduzida ao ato de comprar e vender mercadorias (incluindo candidatos), em vez de aumentar o escopo de suas liberdades e direitos a fim de ampliar as operações de uma democracia substancial.28 Corroborando idêntica posição, Hannah Arendt afirma que a retirada da política e da esfera pública compõe a “atitude básica do indivíduo moderno, o qual em sua alienação em relação ao mundo, só pode revelar-se verdadeiramente na privacidade e intimidade dos contornos face a face”29. Como sociedade transformada em consumidores, as relações humanas são moldadas pela visão do mundo e por padrões de conduta inspirados pelo “mercado” – que tudo compra e tudo vende. Nessa sociedade líquido-moderna de consumo, as pessoas se sujeitam ao constante remodelamento para que, ao contrário das roupas que saem de moda (ficam démodé), não fiquem ultrapassadas e sejam substituídas por modelos mais modernos. Por isso, a necessidade de repensar a relação entre amigo-inimigo, já que os discursos, os meios e instrumentos utilizados pela sociedade de consumo são dissimulados, sorrateiros, subliminares e conduzem o indivíduo ao abandono da cidadania, retira da ação coletiva sua substância, relega o espaço público e a ação política à condição de insignificância diante da alta relevância que o mercado ocupa, produzindo resultados econômicos. Nesse contexto, a ação política, fica em último plano, até porque, pode esperar... Será tratada depois da visita ao Shopping mais próximo! Referências BAUMAN, Zigmunt. Vida líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. ___________. A modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. ___________. Tempos líquidos. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 27 28 29 Op. cit. p. 164. Op. cit. p. 164. Op. cit. p. 169. 138 REFLEXÕES A PARTIR DO “CONCEITO DE POLÍTICO” ___________. Globalização: consequências humanas. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ___________. Vida para o consumo. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial. São Paulo: Malheiros, 1999. BURCKHARDT, Jacob. Reflexões sobre a História. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1961. CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. HENDERSON, Hazel. Além da globalização. São Paulo: Cultrix, 2003. SCHMITT, Carl. O conceito de político- teoria do partisan. Belo Horizonte. Del Rey, 2008. 139 Artigo 10 DIREITO E PSICANÁLISE: DIÁLOGO NECESSÁRIO Lijeane Cristina Pereira Santos1 Um primeiro olhar para o nó borromeu (construção lacaniana sobre a estrutura do sujeito) e os últimos nós que uniam o pensamento a uma lógica cartesiana – aumentada pelo silogismo prático do direito de subsumir um fato a uma norma buscando encontrar, em um processo cheio de regras, “a verdadeira verdade” –, desfizeram-se. E já não basta apenas encontrar uma solução fundamentada na lei. É preciso mais. É necessário buscar o fundamento da subjetividade daqueles envolvidos e submetidos às leis sociais. Mas onde encontrar as explicações necessárias para entender os aportes trazidos pela teoria psicanalítica? E com a resposta sobre o nó borromeu vieram outros nós que ligaram o direito e a psicanálise. Hoje é impossível separar a lei, o direito e a justiça das explicações que traz a psicanálise sobre a constituição dos sujeitos. É necessário dar asas ou, simplesmente, dar um nó unindo os dois discursos, de modo a se estabelecer um diálogo. Mas como a psicanálise pode ajudar na leitura do Direito? Há muito se sabe que a psicanálise tem como objetos mais relevantes de estudo os fatores psíquicos do ser humano, o reconhecimento da existência de um inconsciente e a importância da linguagem para a constituição subjetiva e inserção social dos homens. Sobre a psicanálise e seu futuro como ciência, leciona com precisão Elizabeth Roudinesco2: “A psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie. Ela restaura a idéia de que o homem é livre por sua fala e de que seu destino não se restringe a seu ser biológico. Por isso, no futuro, ela deverá conservar integralmente o seu lugar, ao lado das outras ciências, para lutar contra as pretensões obscurantistas que almejam reduzir o pensamento a um neurônio ou confundir o desejo com uma secreção química”. Trata-se, assim – com toda a certeza – de um discurso rigoroso, no mesmo patamar onde se localiza o discurso do Direito3. Professora de Psicologia Jurídica, Direito de Família e Direito da Criança e do Adolescente, no Curso de Direito das Faculdades Dom Bosco, em Curitiba; Professora de Psicologia Forense, no curso de Psicologia das Faculdades Dom Bosco, em Curitiba; Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná; especialista em Direito Processual Civil; formada em teoria psicanalítica pela Associação Psicanalítica de Curitiba; Membro da Comissão de Direito de Família da OAB/PR, advogada em Curitiba, Membro do Núcleo de Direito e Psicanálise da PPGD UFPR. 2 ROUDINESCO, Elisabeth. Por que a psicanálise? (Tradução de Vera Ribeiro) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 09. 3 Sobre o assunto, vide Agostinho Ramalho Marques Neto, no texto entitulado Subsídios para pensar a possibilidade de articular Direito e Psicanálise. (MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Subsídios para pensar a possibilidade de articular direito e psicanálise. In: Direito e Neoliberalismo – elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996, p. 20): “Psicanálise e Direito, com efeito, não são, segundo penso, propriamente ciências, sobretudo se se toma este termo na acepção neopositivista, que parece ser, ainda, sua acepção dominante. Isso não quer dizer, todavia, que não sejam ou não possam ser, discursos teóricos rigorosos”. 1 140 DIREITO E PSICANÁLISE: DIÁLOGO NECESSÁRIO Sim, o Direito é, sobretudo, um discurso! E, como tal, sujeito às regras da linguagem e às subjetividades de seus enunciadores. E é aí, justamente aí, que se pode colocar a Psicanálise ao seu lado, como auxiliar do seu discurso. Como auxiliar, mas não em justaposição de discursos. É necessário, para que se possa sustentar a possibilidade de um diálogo entre Direito e Psicanálise, que estes discursos sejam respeitados e organizados lado a lado, apenas e tão-somente onde se puder colocá-los nesta posição. É um erro, por exemplo, fazer com que se tente falar de Direito utilizando a simples e pura transposição de conceitos psicanalíticos. A partir deste erro, analisaríamos juízes, réus, promotores como se houvesse, nos fóruns, nas audiências ou nos corredores dos tribunais, ambiente propício para qualquer espécie de transferência. Mas, como se sabe, não há transferência apta a fundamentar a clínica psicanalítica longe dos consultórios. Os conceitos psicanalíticos devem ser estudados a princípio dentro de um campo psicanalítico – e neste campo, quem sabe, sustentar-se-ia que precisam alguns juízes, por exemplo, de bons analistas – para depois, no que convier serem aplicados ao estudo do Direito, como auxiliares. Tudo isto para lembrar que o Direito e a Psicanálise são discursos diferentes, que partem de premissas diferentes. Como enuncia Jacinto Nelson de Miranda Coutinho4: “Os elementos dos campos (direito e psicanálise), por outro lado, não têm a mesma estrutura e não podem ser tomados como lugar-comum. Arriscar a identidade é ceder à comodidade, mas incorreto, para não dizer falso. Atitude empulhadora, deslumbra na primeira aparência pelas fórmulas fáceis, mas oferece o cadafalso no momento seguinte. Isto não quer dizer que não se deva buscar as possibilidades de interseção (o perigo reforça o desejo), mas enuncia a tortuosidade do caminho”. Por oportuno, a psicanálise, como é de conhecimento de todos, teve seus primeiros estudos traçados no final do século XIX e início do século XX, com Sigmund Freud. Tais estudos proporcionaram ao mundo uma nova maneira de observar o individuo em sua subjetividade, tendo em vista que reconheciam a existência de um inconsciente, organizavam o que se denominou de aparelho psíquico e, a partir das manifestações do inconsciente e de métodos de utilização do discurso denominados condensação e deslocamento, propuseram a cura para as neuroses cotidianas, como as histerias, através do método da associação livre de palavras. Era o nascimento do que se designou a “cura pela palavra”, como também do fortalecimento da idéia filosófica que deu origem ao paradigma da linguagem. A partir destas premissas freudianas, os operadores do direito trataram de organizar princípios que pudessem ser aplicados, sobretudo, no estudo da conduta delituosa, da psicologia do testemunho e das decisões judiciais. O que se não esperava é que o ensino da Psicanálise aplicada ao Direito (assim como a própria Psicanálise) tivesse uma mudança profunda em sua estrutura com o advento e difusão das idéias de Jacques Lacan. 4 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Jurisdição, Psicanálise e mundo neoliberal. In: Direito e Neoliberalismo – elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996, p. 42. 141 Artigo 10 Isto porque Lacan, através de uma releitura dos textos de Freud, conjugada com os ensinos trazidos pela lingüística de Sausurre e Jakobson, trouxe para a Psicanálise o conceito de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, por significantes e significados, articulados diante do nó borromeu (àquele cujo qual dá-se longínquos passos atrás de seu significado), que é a forma de entrelaçamento entre os campos do real, do imaginário e do simbólico. Todos os discursos, para ele, podem ser organizados estruturalmente desta mesma forma e, com o Direito, não é diferente. A diferença em relação ao campo do Direito é traduzida, para Lacan, no fato do discurso do Direito ser, por excelência, um discurso que trata do gozo. No Seminário 20, intitulado “Mais, ainda”, o autor, durante o texto, define o que é o Direito5: “...eu não me achava deslocado por ter que falar numa faculdade de direito, pois é onde a existência dos códigos torna manifesta a linguagem.... (...) e lembrarei ao jurista que, no fundo, o direito fala do que vou lhes falar – o gozo. (...) Esclarecerei com uma palavra a relação do direito com o gozo. O usufruto (...). É nisso mesmo que está a essência do direito – repartir, distribuir, retribuir, o que diz respeito ao gozo.” Ou seja, “O direito, com suas leis, representa uma forma de barrar ou enquadrar a tendência do homem a fazer do outro o objeto de suas pulsões destrutivas”6. O Direito é, assim, uma forma de regulamentar socialmente o gozo7. A regulamentação pessoal do gozo viria do mito de cada indivíduo, traduzido pelo nome-do-pai, transmitido para a criança por aquele que faz a função de pai8. Quando a função é exercida satisfatoriamente, a criança é introduzida no mundo da linguagem e da cultura. A regulamentação social do gozo parte da idéia lacaniana de existência de um Outro (grande outro), representativo de uma ordem simbólica estruturada pela linguagem e, por isso, fundante de todos os significantes. A leitura do Direito a partir da psicanálise, mormente pelo que se propõe como função de regulamentação social do gozo difere – e muito – da leitura tradicional do Direito como sistema normativo coercitivo advindo de uma autoridade estatal. É preciso, para dialogar com ambas as áreas dar maior importância para os sujeitos envolvidos pelo Direito, destinatários das normas, LACAN, Jacques. O seminário, livro 20: mais ainda. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. 2. ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 10-11. 6 QUINET, Antonio. O gozo, a lei e as versões do pai. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha; GROENINGA, Giselle Câmara. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 56. 7 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: A bricolage de significantes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 10: “ E o Direito, na forma que se conhece, também procura estabelecer a ordem social, colocando limites às pulsões, na pretensão de coibir o excesso de gozo em nome da Civilização. Busca barrar os impulsos, principalmente dos que não conseguem respeitá-los sem (a ameaça de) sanção”. 8 Por sinal, o fato da transmissão do nome-do-pai ser realizada por aquele que faz a função de pai, desvincula a paternidade da biologia, corroborando com o conceito de paternidade afetiva, muito usado nos casos de guarda, alimentos e adoção no Direito de Família. 5 142 DIREITO E PSICANÁLISE: DIÁLOGO NECESSÁRIO ao invés de tratar como mais relevante o estudo da fundamentação delas e da autoridade estatal de que são advindas. Neste aspecto, leituras críticas do Direito se destacam e nelas os conceitos utilizados são voltados para os seres humanos destinatários das normas jurídicas. Quem são eles? Como são constituídos? Qual é a sua forma de organização social? Consegue um ser humano prescindir de normas jurídicas e conviver em sociedade? A “desconstrução” dos conceitos tradicionais da teoria do direito está, neste viés, posta pela teoria crítica e a utilização da psicanálise para sua leitura tem apenas, e dentro dos limites expostos, a acrescentar. Assim, necessário olhar para o Direito com um enfoque além do humanista. Relê-lo sob uma perspectiva que dê o devido lugar não somente para o ser humano, mas para o sujeito também em seus aspectos psíquicos. Esta é a proposta daqueles que pretendem um diálogo entre o Direito e a Psicanálise e procuram trazer novos saberes para ambos os discursos. A importância de tal leitura torna-se evidente quando se passa a trabalhar com os problemas sociais de que se tem notícia na contemporaneidade, restando eles refletidos – todos! – no Direito. Como síntese desses problemas, Charles Melman fala em mudança de economia psíquica, trazida pela exacerbação da cultura capitalista e pela perda de referência simbólica. Em suas palavras9: “Passamos de uma cultura fundada no recalque dos desejos e, portanto, cultura da neurose, a uma outra que recomenda a livre expressão e promove a perversão. Assim a ‘saúde mental’, hoje em dia, não se origina mais numa harmonia com o Ideal, mas com um objeto de satisfação. (...) Há uma nova forma de pensar, de julgar, de comer, de transar, de se casar ou não, de viver a família, a pátria, os ideais, de viver-se. (...) o céu está vazio, tanto de Deus quanto de ideologias, de promessas, de referências, de prescrições, e que os indivíduos têm que se determinar por eles mesmos, singular e coletivamente”. Tal mudança é sentida pelo Direito, que procura uma forma de superação dos problemas. Pois se a nova economia psíquica promove o “gozo a qualquer preço”, a realização das pulsões através de um objeto materializado e não mais o recalque delas por ser portador de uma referência simbólica, promovendo a auto-determinação singular e coletiva dos indivíduos, como lidar com o Direito que, como afirmado acima, tem a função de regulamentar socialmente o gozo? Mas o reflexo desta crise ainda está para ser sentido pelos estudiosos do Direito e cabe aos que trabalham com ele, ao menos, cogitar as soluções para melhor resolver os problemas criados por conta destas mudanças. Observar, conhecer e estudar as crises apontadas já será um grande avanço no que concerne com a “desconstrução” e reconstrução da teoria do Direito, restando dúvidas, apenas, quanto ao futuro, quanto ao amanhã. 9 MELMAN, Charles. O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2003, p. 15-16. 143 Artigo 10 Quanto ao futuro da psicanálise e dos domínios da cultura, da mídia e do direito, preconiza Jacques Derrida10: “Não sei aonde tudo isso irá. Não saberia nem mesmo desenhar a silhueta do que vai acontecer. Um processo complexo está evidentemente deflagrado, tanto no seio do que se intitula comunidade, corporação ou instituição psicanalítica como nos lugares denominados confins da psicanálise: a psiquiatria, os domínios da ‘terapia’ e, se é que existem, os domínios alheios à preocupação terapêutica, a cultura geral, as mídias, o direito. Sobre essas fronteiras móveis, instáveis, porosas, afetando justamente a forma e a existência dessas próprias fronteiras, a mudança não cessará de se acelerar.” E, na seqüência, conclui em seu estilo “desconstrutivista”: “Para chegar aonde? Não sei. É preciso saber, é preciso sabê-lo, mas é preciso também saber que sem algum não-saber, nada acontece que mereça o nome de ‘acontecimento’”. Referências COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Jurisdição, Psicanálise e mundo neoliberal. In: Direito e Neoliberalismo – elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O estrangeiro do Juiz ou o Juiz é o Estrangeiro? In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (org.). Direito e psicanálise – interseções a partir de “O Estrangeiro”de Albert Camus. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006. DERRIDA, Jacques. Força de Lei – o fundamento místico da autoridade. (Tradução Leyla Perrone-Moisés). São Paulo: Martins Fontes, 2007. DERRIDA, Jacques; ROUDINESCO, Elisabeth. De que amanhã...diálogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. FREUD, Sigmund. A negativa. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro, Imago, vol. XIX. LACAN, Jacques. O Seminário livro 20, mais, ainda. 2. ed, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Subsídios para pensar a possibilidade de articular direito e psicanálise. In: Direito e Neoliberalismo – elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996. MELMAN, Charles. O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2003, NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdiciplinaridade. Tradução de Lúcia Pereira de Souza, 2. ed., São Paulo: TRIOM, 1999. PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi. A Lei – uma abordagem a partir da leitura cruzada entre Direito e Psicanálise. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. QUINET, Antonio. O gozo, a lei e as versões do pai. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha; GROENINGA, Giselle Câmara. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003. ROUDINESCO, Elisabeth. Por que a psicanálise? (Tradução de Vera Ribeiro) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 10 DERRIDA, Jacques; ROUDINESCO, Elisabeth. Op. Cit., p. 219. 144
© Copyright 2026
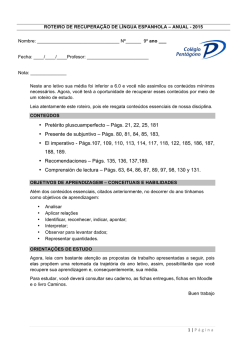
![[Recensão a] SABINO PEREA YÉBENES, La idea del alma y el Más](http://s2.esdocs.com/store/data/000381135_1-2651244a0e149f65b3eb2be99c5817b9-250x500.png)
